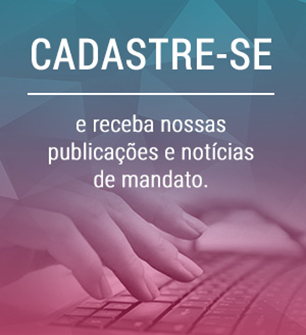Publicado na Folha de São Paulo, no dia 16 de maio de 2020 - Por André Lara Resende*
Diante do drama da pandemia, nem os mais renitentes defensores do equilíbrio fiscal ainda sustentam que o Estado não pode aprovar despesas sem fontes tributárias. Qualquer pessoa de bom senso concorda que o Estado deve gastar o que for necessário na saúde e na ajuda assistencial aos que estão sem emprego, sem renda e sem alternativas.
Com a arrecadação em queda, o momento não permite o aumento dos impostos, o que agravaria a dramática recessão que enfrentamos. As despesas emergenciais irão inevitavelmente aumentar o déficit das contas públicas.
Só restam duas alternativas: a emissão de moeda ou o aumento da dívida. A decisão de como financiar o déficit, substantivo e inevitável, tem provocado controvérsia. Pode-se emitir moeda? Existe um limite para o aumento da dívida?
Comecemos pela questão da emissão monetária. No mundo contemporâneo, moeda e dívida pública não são tão diferentes como se pretende. São ambas passivos do setor público. Tanto a moeda como um título do Tesouro são dívidas do Estado.
No passado, a moeda metálica tinha um valor intrínseco. Depois, passou a ser um certificado de dívida pública, que poderia ser convertido numa mercadoria de valor intrínseco, o ouro. Hoje, é apenas mais um certificado de dívida do Estado que não tem lastro metálico, é puramente fiduciário. Quase toda moeda contemporânea, como também a dívida pública, é apenas um registro contábil eletrônico.
Qual, então, a diferença entre moeda e dívida pública? A moeda não paga juros e é o ativo líquido por definição, isto é, sempre aceito pelo seu valor de face.
No passado, a dívida não monetária era relativamente ilíquida. O preço de um título de dívida poderia sofrer grandes deságios, caso houvesse pressa para vendê-lo, pois o mercado era desorganizado e pouco líquido. A maioria dos compradores de dívida eram investidores que pretendiam levar os títulos até o resgate.
Hoje, com os mercados financeiros hiperdesenvolvidos, a dívida pública tem praticamente a mesma liquidez da moeda. Com as taxas de juros básicas, que balizam os juros da dívida, próximas de zero ou até mesmo negativas em grande parte do mundo, a distinção entre moeda e dívida torna-se praticamente irrelevante. São ambas dívidas públicas de alta liquidez.
A moeda contemporânea, sem valor intrínseco, é apenas um certificado de dívida, sem prazo de vencimento, ou seja, uma perpetuidade, que não paga juros, mas essencialmente um certificado de dívida pública. A principal diferença é institucional: a moeda é um passivo do Banco Central, por isso não é computada como dívida pública. Esta é a razão da polêmica em torno da monetização dos déficits públicos.
Quando o Estado gasta, necessária e inevitavelmente, aumenta o seu passivo consolidado, mas se opta por financiar seus gastos com emissão de moeda, ou seja, com aumento do passivo monetário do Banco Central, não há aumento da dívida pública. Substantivamente, não há qualquer diferença, o passivo consolidado do Estado irá aumentar, mas o aumento não será expresso na dívida pública.
Com tanta discussão e confusão em torno do assunto, não tenho a intenção de massacrar o leitor com mais uma exposição excessivamente técnica. Peço apenas mais um pouco de paciência, para expor um ponto de alta relevância e malcompreendido.
Tanto o Estado quando o sistema bancário criam moeda. A moeda é um passivo do Estado, mas o sistema bancário tem permissão para criar um passivo que, em última instância, é do Estado. Os bancos que têm conta no Banco Central podem criar moeda e obrigá-lo a sancionar essa expansão.
Para evitar que a taxa juros no mercado de reservas bancárias, principal instrumento de política monetária, se desvie da taxa fixada, o Banco Central é obrigado a sancionar a expansão da moeda. Ao dar crédito os bancos emitem moeda.
Essa é a razão pela qual não são meros intermediários, que canalizam a poupança para o investimento, mas agentes que criam poder aquisitivo. Assim como o Banco Central, o sistema bancário cria poder aquisitivo.
Enquanto a moeda criada pelo sistema bancário financia primordialmente gastos privados, a moeda criada pelo Banco Central poderia financiar os gastos públicos, mas não é o que ocorre. A proibição de que o Banco Central financie o Tesouro obriga o Estado a emitir dívida sempre que gasta.
Trata-se de uma restrição legal, cuja justificativa é impedir a “monetização” do déficit público. Ocorre que a dívida subscrita pelo sistema financeiro obriga o Banco Central a emitir as mesmas reservas que teria emitido para financiar diretamente o Tesouro.
O aumento de poder aquisitivo na economia é exatamente o mesmo. A diferença é que a “emissão” de moeda será feita pela expansão do crédito bancário, forçando os bancos a se refinanciar com o Banco Central.
Essa é a razão pela qual aproximadamente 40% da dívida pública é hoje financiada pelo Banco Central por meio das chamadas “operações compromissadas”, que nada mais são do que emissão de reservas, base monetária, para o sistema bancário.
Em vez de o Tesouro ser forçado a emitir dívida, vendê-la para o sistema bancário, que por sua vez vai se financiar no Banco Central, o próprio Banco Central poderia financiar o Tesouro, com reservas remuneradas à taxa básica, sem necessidade de emissão de dívida.
O sistema de reservas remuneradas já existe e é utilizado, entre outros bancos centrais, pelo Fed americano. Se as “compromissadas” fossem transformadas em depósitos remunerados no Banco Central, a dívida pública se reduziria a 60% do que é hoje, ou seja, cairia de 75% para 45% do PIB.
Aqui está a chave de toda a celeuma em torno da emissão de moeda para financiamento de gastos públicos, da chamada monetização do déficit.
Durante décadas, sobretudo sob a batuta de Milton Friedman e seus discípulos da Universidade de Chicago, sustentou-se que os bancos centrais não poderiam emitir mais base monetária do que o crescimento nominal da renda, sob pena de provocar inflação.
Com as suas bases conceituais questionadas desde Knut Wicksell, há mais de um século, a tese de que a emissão de moeda pelo Banco Central provoca necessariamente inflação foi completamente desmoralizada pelo experimento do Quantitative Easing. O QE, implementado pelos bancos centrais dos países atingidos pela crise financeira de 2008, nada mais é do que expansão de base monetária para que o Banco Central possa socorrer o sistema financeiro.
Os bancos centrais chegaram a multiplicar seus passivos por mais de dez vezes, isto é, expandiram a base monetária em mais de 1.000%, sem que houvesse qualquer sinal de inflação. Ao contrário, todos os países nos quais o QE foi implementado continuaram a beirar perigosamente a deflação.
Recapitulemos. Moeda é emitida tanto pelo Banco Central como pelo sistema bancário. A emissão de moeda pelo Banco Central, por determinação legal, não pode financiar o Tesouro, mas é permitida para expandir as reservas dos bancos, que então expandem a moeda e financiam o Tesouro.
No final, a expansão da moeda é a mesma, mas há uma correspondente expansão da dívida, e é o sistema bancário que decide a taxa exigida para financiar a dívida. Esqueçamos que o sistema bancário lucra, e muito, nessa desnecessária intermediação, e vejamos como esse arranjo institucional serve ao propósito de restringir os gastos do Estado.
Como a expansão da dívida pública foi transformada no principal indicador de desequilíbrio fiscal, a proibição de que o Banco Central financie diretamente o Tesouro, ao obrigar a emissão de dívida, reforça o coro dos alarmistas: a relação dívida/PIB vai superar o limite mágico, a dívida será impagável e a economia caminhará para o abismo.
Falso, tanto do ponto de vista lógico como empírico, mas serve para elevar as taxas cobradas pelo sistema financeiro para financiar a dívida e pode vir, efetivamente, a causar problemas, porque, como veremos à frente, as expectativas, ainda que equivocadas, contam.
Ao impedir que o Banco Central financie o Tesouro, sem passar pela intermediação do sistema financeiro e sem emissão de dívida pública, o arranjo institucional vigente reproduz uma restrição histórica.
Enquanto prevaleceu o padrão-ouro, o Estado não podia emitir moeda sem lastro metálico; já a emissão de moeda pelo sistema bancário não tinha qualquer restrição. Com a moeda fiduciária, foi necessário criar restrições institucionais para forçar o Estado a emitir dívida. Faz sentido, poder-se-ia argumentar.
É uma forma de pressão para que o Estado não gaste de maneira irresponsável e demagógica. O financiamento do gasto do Estado diretamente pelo Banco Central, embora mais prático e menos oneroso do que pela via indireta da emissão de dívida, é politicamente perigoso, pois pode dar a impressão de que o gasto público não tem custo, de que é possível fazer mágica.
A cautela em relação à tentação populista de expandir gastos demagógicos é compreensível. Sobretudo quando as elites abdicaram da vida pública, respaldadas num “laissez faire” primário, retiraram-se para tratar de seus interesses privados, e a política ficou relegada ao baixo clero.
A cautela, contudo, desaparece quando se trata de emitir moeda para que o Banco Central salve o sistema financeiro. A moeda, emitida de forma irrestrita pelo sistema bancário durante um período de euforia, contrai-se de forma brusca quando as expectativas se revertem e o otimismo desaparece.
Foi o que ocorreu nos países avançados que estavam no epicentro da crise de 2008. Os bancos centrais foram então chamados a exercer o seu papel institucional de emprestador de última instância: emitir moeda. Emitir moeda, na expressão de Mario Draghi, então presidente do Banco Central Europeu, “whatever it takes”, custe o que custar, para salvar o sistema financeiro.
Se o dinheiro usado para salvar o sistema financeiro tivesse que percorrer o mesmo caminho exigido para todos os demais gastos públicos, o Tesouro teria que aumentar impostos ou aumentar a dívida pública. Salta aos olhos que a resistência política seria enorme.
Por isso, aceita-se que o Banco Central emita moeda, tomando-se o cuidado de dar a essa emissão extraordinária um nome absurdo para intimidar os leigos. O Quantitative Easing é emissão, pura e simples, de moeda para comprar os ativos que o sistema financeiro não tem mais como carregar, sem realizar prejuízos insuportáveis.
Para se ter ideia da magnitude da emissão monetária do QE, basta lembrar que, com a crise de 2008, o Fed aumentou a base monetária americana de 3% para 30% do PIB. Agora, com a crise da Covid-19, o Fed voltou a aumentar a base monetária para 50% do PIB. Desde 2008 até hoje, o Fed expandiu o seu passivo em mais de 45% do PIB.
Como o aumento do passivo público foi feito pelo Fed, não aparece na estatística de dívida, não aumenta a relação dívida/PIB, mas é dívida pública, exatamente como seria se o Tesouro tivesse sido obrigado a emitir títulos para salvar o sistema financeiro.
Vamos ver se entendemos. Quando o gasto público é para salvar o sistema financeiro, o Banco Central é autorizado a emitir e creditar os recursos diretamente nos bancos, sem aumento da dívida pública, para que não haja questionamento da sociedade.
Quando o gasto público tem qualquer outra finalidade, pouco importa se uma assistência emergencial diante de uma catástrofe como a atual, ou se em investimentos na saúde, no saneamento, na educação, na segurança e no meio ambiente, é imperativo que não se emita moeda, mas sim dívida. Assim, a pressão dos arautos da responsabilidade fiscal pode ser exercida em toda a sua plenitude.
Examinemos então custos e riscos do aumento da dívida pública que tanto assustam os analistas. Quando a dívida é externa, denominada em moeda estrangeira, o país precisa transferir recursos reais para o exterior, equivalentes ao “serviço” da dívida, isto é, ao pagamento de juros e de amortizações.
A transferência de recursos para o exterior diminui a renda disponível e exige que o país reduza o consumo e o investimento. O esforço de geração de um excedente a ser transferido para o exterior é penoso e pode ser, econômica e politicamente, inviável.
O “problema da transferência” aparece na literatura econômica, a partir de crítica feita por John M. Keynes às reparações de guerra, exigidas da Alemanha pelo Acordo de Versalhes.
Quando a dívida é interna e denominada em moeda nacional, como é o caso da dívida brasileira hoje, o problema não existe. O serviço da dívida interna denominada na moeda nacional não exige transferência de recursos para o exterior.
O Estado deve para os seus próprios cidadãos. É uma dívida de brasileiros com brasileiros, ou de “Zé com Zé”, para usar um velho jargão do mercado financeiro. O Estado pode sempre refinanciar a dívida e emitir, se necessário, para cobrir o seu serviço.
Não existem, então, custos nem limites para a dívida interna? Sim, existem, mas os custos são de caráter distributivos e, embora não haja nenhum limite técnico, a relação entre a dívida e a renda nacional não pode seguir uma trajetória explosiva. Para entender o motivo, raciocinemos por absurdo.
Imagine que o Estado seja de fato, como pretende o liberalismo primário dos fiscalistas, a encarnação do mal, que gaste exclusivamente com transferências para a sua clientela e que financie essa farra com a emissão de dívida. No limite, só os que recebem do Estado terão renda, logo, só eles poderão ser os detentores da dívida. A partir de certo ponto, ficará claro que estão numa corrente da felicidade, recebendo de quem são credores, sem ter o que comprar com o que recebem, pois nada mais se produz na economia.
Para evitar o absurdo de uma relação dívida/PIB que tenda para o infinito, ou, o que é o mesmo, de uma relação PIB/dívida que tenda para zero, basta garantir que o crescimento a longo prazo da renda seja superior ao crescimento da dívida. Para isso, antes de mais nada, é preciso que a renda cresça.
O crescimento exige investimento produtivo, e o investimento produtivo é diferente do investimento financeiro. É a combinação da falta de investimentos públicos —em saúde, saneamento, educação, segurança e infraestrutura— com o excesso de liquidez no mercado financeiro que leva à estagnação com inflação dos preços de ativos.
Ao responder a esta crise da Covid-19 com mais QE, sem investimentos públicos e privados produtivos, arriscamos agravar a dissociação entre preços de ativos financeiros e a economia real.
Esta crise não é apenas um problema clássico de insuficiência de demanda. O fechamento da economia, ainda que venha a ser abrandado, reduz tanto a demanda quanto a oferta. Se a pandemia não for rapidamente superada, a capacidade de produção poderá ser seriamente afetada.
Muitas empresas dos setores mais atingidos, como turismo, hotéis, restaurantes, aviação comercial, entre outros, não irão conseguir sobreviver. Grande parte da capacidade instalada irá se perder. A recuperação exigirá coordenação estatal e grandes investimentos para repor a capacidade de oferta.
Com a oferta reduzida, o déficit provocado pelas transferências assistenciais e pelos investimentos, indispensáveis para viabilizar a volta do crescimento, poderá, efetivamente, vir a pressionar as contas externas. A desvalorização do real, que hoje é puramente especulativa, provocada pelo equivocado receio de que o aumento do déficit público gere inflação, pode vir a desancorar as expectativas.
Estamos diante de uma crise inusitada, que pode se transformar numa catástrofe econômica e social. Para se ter chance de superá-la, é preciso compreender que o Estado pode, e deve, investir de forma produtiva.
Isso não é o mesmo que defender um Estado inchado, refém de interesses clientelistas. A moeda é endógena, acompanha o ritmo e os humores da economia, e é emitida tanto pelo Banco Central como pelo sistema financeiro. O aumento do crédito, seja ele público ou privado, sem contrapartida de investimento real, produz bolhas especulativas, mas não leva ao crescimento.
No mundo da moeda fiduciária e do QE, a política monetária e a política fiscal são indissociáveis. Devem ser coordenadas, idealmente por um único órgão técnico independente, que tenha superado um arcabouço macroeconômico anacrônico, mas ainda predominante.
Infelizmente, velhas ideias e interesses constituídos podem resistir tanto à razão quanto à beira do precipício.
*André Lara Resende é economista e doutor pelo MIT, foi diretor do Banco Central, presidente do BNDES e um dos formuladores do Plano Real.