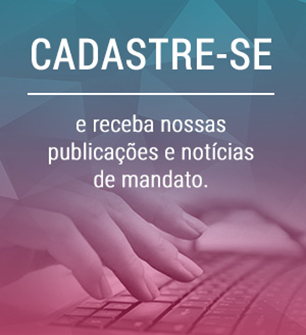Bráulio Borges: “Brasil, Chile, ‘socialdemocracia’ e progresso econômico”
Publicado no Blog do IBRE, no dia 8 de novembro de 2019 | Por Bráulio Borges*
O ministro Paulo Guedes insiste no diagnóstico de que o Brasil não cresceu muito nos últimos 30 e pouco anos basicamente por conta da opção pela adoção de um Estado de bem-estar social “de centro-esquerda” (socialdemocracia) com a promulgação da Constituição de 1988. E o Chile, com seu Estado mínimo “liberal-democrata” seria o exemplo a ser seguido aqui na América Latina, de forma inquestionável.
Trata-se de uma visão limitada e bastante ultrapassada. Sim, há bons exemplos a serem copiados do Chile (incluindo aí o arcabouço de metas e instituições fiscais estruturais introduzido em 2001, por um governo de centro-esquerda), já que o país é o mais bem-sucedido da América Latina nas últimas três décadas. Assim como há exemplos do que não fazer – afinal, estariam os chilenos protestando por nada?

Antes de me aprofundar nesse assunto, acho importante apontar que um debate de alto nível sobre a forma de atuação do Estado – no sentido de promover desenvolvimento econômico e social – deveria fugir de estereótipos altamente ideológicos como o “Estado mínimo” ou o anarcocapitalismo, de um lado, e do Estado com capacidade orçamentária infinita e altamente interventor em todos os aspectos da vida dos indivíduos (“soviético”), do outro lado. Afinal, como bem colocado pela economista especializada em estudo da pobreza recém agraciada com o Nobel, Esther Duflo, há três “i”s que são inimigos das políticas de desenvolvimento (e também, eu diria, de um debate produtivo): ideologia, ignorância e inércia.
As visões de que somente governos de “direita” são reformistas[1], por um lado, e de que “liberalismo econômico” significa ignorar o “social”, por outro lado, são muito limitadas (para não dizer equivocadas), mas ainda assim estão aí, presentes o tempo todo no debate, sendo colocadas mesmo por aqueles que em tese seriam (ou deveriam ser) mais “esclarecidos”.
Dando continuidade ao debate proposto pelo título deste texto, a evidência empírica de vários estudos aponta que não há uma incompatibilidade clara entre o aprofundamento de políticas tipicamente atribuídas a um Estado de bem-estar social – algo que muitas vezes acaba demandando uma carga tributária mais elevada e progressiva – e o progresso econômico.
Em primeiro lugar, porque não há um trade-off tão destacado entre nível de renda per capita e equidade, sobretudo quando se está bem aquém da fronteira em ambos os pontos (ver Andersen & Maibom 2016, de onde foi extraída a figura abaixo). Ou seja: é possível combinar avanços nos dois campos, sobretudo nos países que estão aquém da fronteira (Brasil e Chile, por exemplo). Vale notar que desigualdade de oportunidades piora o crescimento econômico (ver Marrero & Rodriguez 2019) e desigualdade muito elevada e crescente de resultados (independentemente da causa) gera insatisfação e instabilidade política, levando muitas vezes ao populismo em regimes democráticos.

Em segundo lugar, embora mais dinheiro compre um pouco mais felicidade (ver figura abaixo e também um ótimo texto sobre esse tema de meu colega de IBRE, Aloísio Campelo Júnior), a satisfação com a vida depende de vários outros fatores (ver figura seguinte).


Quando se leva em conta uma visão multidimensional do bem-estar (“utilidade” dos indivíduos), não se limitando ao nível de renda (ou consumo) per capita, fica evidente que o modelo dos países nórdicos parece ser a referência a ser seguida (não minimizando a dificuldade de transposição de várias políticas adotadas nesses países, relativamente pequenos e unitários, para países “continentais” como o Brasil).
Não custa lembrar que os países nórdicos dominam as primeiras posições dos rankings de bem-estar e conciliam sistemas econômicos caracterizados por elevadas cargas tributárias/despesas públicas (entre 40% e 45% do PIB, na maioria deles), de um lado, e, de outro, níveis de produtividade alinhados à fronteira tecnológica. Eles também ocupam as primeiras posições em rankings de atividade inovadora (ver, por exemplo, o Global Innovation Index 2019).
Tais países lograram êxito em desenhar e calibrar seus sistemas/redes de proteção social de modo a minimizar as distorções associadas à tributação e desincentivos e a maximizar o impacto associado à equalização de oportunidades, criando uma rede de proteção social altamente efetiva no sentido de dar maior segurança para os cidadãos poderem empreender e inovar, mas sem desestimulá-los a isso.
É importante notar que a convergência dos níveis de eficiência/produtividade nos welfare states nórdicos em direção à fronteira tecnológica ocorreu entre meados da década de 1950 e a década de 1980 (ver figura abaixo), de forma concomitante a um aprofundamento das políticas de bem-estar, as quais demandaram forte aumento da carga tributária para viabilizar gastos públicos mais elevados.

Ou seja, tais países são tão eficientes, do ponto de vista econômico, quanto os EUA. O PIB per capita (produtividade do trabalho multiplicada pelo total de horas trabalhadas, dividido pelo total da população) desses países só não é semelhante àquele dos EUA (exceção feita à Noruega, que está acima) em função de um equilíbrio distinto, nos nórdicos, na relação entre trabalho e lazer, que se traduz em uma jornada média mais baixa do que na maior economia do mundo (e este é um dos aspectos que acaba jogando a favor de um nível de bem-estar superior nesses países comparativamente aos EUA).
O “segredo nórdico” consistiu em conciliar a ampliação e aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas à equalização de oportunidades com reformas econômicas liberalizantes em vários aspectos, como aponta a figura abaixo. Resumidamente: Estados e mercados são complementares no que tange à consecução do progresso econômico e social. Deve-se buscar um ponto de equilíbrio entre as falhas de mercado e as falhas de governo.

Houve, contudo, um grande cuidado, nesses países, com relação ao desenho das instituições que governam o funcionamento do mercado de trabalho, reconhecendo a interação muitas vezes desequilibrada entre trabalhadores e empresas. Dito de outro modo: esses países da fronteira de bem-estar abriram suas economias ao comércio exterior, aos capitais estrangeiros, reduziram a atuação direta do Estado na economia (por meio de concessões e privatizações em várias áreas), mas foram bastante cuidadosos quanto às modificações introduzidas nas regras de funcionamento do mercado de trabalho, sem desmantelar sindicatos (como foi o caso de EUA e Reino Unido a partir dos anos 80). Ainda assim, na média de Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia, o subcomponente Labour Market Regulations (que faz parte do Índice de Liberdade Econômica) atingiu a marca de 6,2 em 2017, bastante superior aos 4,2 do Brasil, mas bem abaixo dos 8,4 do Reino Unido e dos 9,2 dos Estados Unidos.
Portanto, à luz do que foi exposto acima, o desempenho econômico apenas modesto observado no Brasil nos últimos 30 anos não deve ser creditado pura e simplesmente ao fato de que o país optou pela adoção de um Estado de bem-estar social com a promulgação da Constituição de 1988 – como o ministro Paulo Guedes insiste em apontar.
O problema brasileiro parece estar muito mais no desenho e calibragem específicos do sistema de bem-estar tupiniquim – altamente capturado por interesses corporativistas (vide os gastos de 5% do PIB com pensões e aposentadorias de funcionários públicos, o triplo da média da OCDE) e que não antecipou boa parte das expressivas mudanças demográficas ocorridas desde então – bem como em outros arranjos institucionais/microeconômicos deficientes.
Ademais, também atuou como um headwind a um crescimento econômico mais elevado a aguda instabilidade macroeconômica observada em boa parte desse período – uma “herança maldita” dos enormes desequilíbrios acumulados na segunda metade do regime militar. Essa elevada instabilidade foi apenas parcialmente aliviada com o Plano Real, em 1994 (que debelou a inflação crômica que ameaçava caminhar para a hiperinflação no começo dos anos 1990) e com a conquista da posição credora externa líquida a partir de meados da década de 2000 (permitindo que o Brasil “virasse a página” das recorrentes crises severas de balanço de pagamentos).
É importante notar que, desde que arcabouço moderno do welfare state foi concebido na Inglaterra, pelo economista liberal William Beveridge, na década de 1940 – como uma resposta liberal a um temor de que a ausência de um crescimento mais inclusivo poderia minar as democracias capitalistas liberais (além de também ter sido uma resposta a alguns fatos históricos, como os efeitos da II Guerra Mundial e da Grande Depressão sobre o bem-estar de boa parte dos países ocidentais) – já se vislumbrava um “trilema”, envolvendo os seguintes aspectos: i) custos das políticas (afetando a taxação e a eficiência econômica, condicional à magnitude e ao desenho dos tributos); ii) impactos em termos de redução da pobreza extrema e melhoria do bem-estar da sociedade; e iii) impactos em termos de desincentivos ao trabalho e à constituição de poupança privada (afetando a taxa de juros de equilíbrio e o potencial de crescimento econômico no médio/longo prazo).
Ademais, há, atualmente, alguns elementos novos colocando pressão adicional sobre os Estados de bem-estar social (e mesmo sobre os demais países que adotam versões mais desidratadas dessas políticas), como o envelhecimento mais rápido da população, as fortes ondas imigratórias em algumas regiões do globo (envolvendo muitas vezes choques de cultura/religião), as novas relações de trabalho (no âmbito daquilo que tem sido chamado de gig ou freelance economy, reflexo de transformações tecnológicas associadas à tecnologia da informação), bem como a aceleração da automação/robotização em várias atividades, não mais restritas à manufatura.
Com efeito, é preciso reformar – e não abandonar – o Estado de bem-estar social, de modo a lidar com esses novos desafios que vêm se apresentando, bem como corrigir os “desvios de finalidade” gerados pela captura do Estado por algumas corporações públicas e mesmo por alguns interesses do setor privado. Como apontou reportagem recente na The Economist, “Capitalism needs a welfare state to survive”.
Nesse esforço de reforma do Estado de bem-estar social, é importante ter em mente que as políticas públicas devem buscar maximizar as chamadas operações pré-distributivas (pré-mercado e no próprio mercado – como, por exemplo, a garantia de um “jogo” mais equilibrado entre trabalhadores e empresas no mercado de trabalho) e minimizar as operações redistributivas (transferências de renda), como reiterou um documento recente do G20 (Filgueira, Causa, Fleurbaey & Grimalda 2018).
Desse modo, o Estado deveria atuar, via gasto, tributação e regulação, de modo a assegurar a maior equidade horizontal possível em termos da provisão de saúde, educação e segurança à população, bem como proteger os indivíduos mais vulneráveis em circunstâncias mais desfavoráveis (o que também pode ser feito por meio de uma política macroeconômica anticíclica). Assim, cada um dos indivíduos da sociedade, partindo de bases (“dotações iniciais”) semelhantes, teria plena liberdade para tomar suas próprias decisões sobre sua alocação de trabalho/lazer e consumo/poupança ao longo de sua vida, tendo como pano de fundo regras do jogo bem definidas e razoavelmente previsíveis/estáveis, bem como mercados livres e competitivos.
Sobre este último ponto – mercados livres e competitivos –, nada mais equivocada do que a ideia de que isso somente seria possível por meio de um Estado mínimo. Para que isso ocorra e se mantenha ao longo do tempo, o Estado, além de garantir os direitos de propriedade, deve atuar ativamente para regular alguns setores (monopólios naturais, por exemplo), para corrigir falhas de mercado/externalidades negativas (poluição, restrições de crédito etc.), para planejar ações envolvendo a infraestrutura econômica (com a execução podendo ser eventualmente delegada ao setor privado) e, por fim, para promover a concorrência (já que a tendência é que o setor privado busque aumentar seu poder de mercado, de modo a obter rendas extraordinárias – inclusive por meio da cooptação do sistema político). Neste último ponto, vale notar que políticas pró-negócios não são sinônimos exatos de políticas pró-mercado, como bem colocado há um bom tempo pelos economistas Luigi Zingales e Raghuram Rajan.
Nesse contexto, e diante das mudanças pelas quais o mundo vêm passando nos últimos tempos (envelhecimento, mudanças nas relações de trabalho e mesmo no meio-ambiente), o FMI apontou, há algum tempo, que a política fiscal nos países deveria migrar para aquilo que a instituição denomina como smart fiscal policy.
Uma política fiscal “esperta/inteligente” deveria, idealmente: i) ser anticíclica (até mesmo porque há cada vez mais evidência empírica de que suavizar os ciclos econômicos eleva o PIB potencial, ao reduzir os riscos associados à histerese econômica – ver Walentin & Westemark 2018); ii) ser amigável ao crescimento econômico de médio e longo prazo, no sentido de promover a acumulação de capital, a oferta de mão-de-obra e os ganhos de produtividade, por meio tanto da tributação como do gasto; iii) promover a inclusão, sobretudo por meio do desenho de políticas públicas buscando promover a igualdade de oportunidades – o que acaba atuando no sentido de garantir maior estabilidade política nas democracias liberais; iv) estar amparada em uma forte capacidade de arrecadação (o que significa buscar bases tributárias mais estáveis), de modo a ter capacidade de sustentar de forma relativamente duradoura as políticas públicas viabilizadas por meio do gasto; e v) a política fiscal deve ser prudente. Portanto, é preciso construir espaço fiscal (dívida pública baixa, por exemplo) durante os períodos de bonança de modo a elevar os graus de liberdade da política fiscal (e econômica) em momentos de desaceleração mais acentuada da atividade econômica, permitindo uma atuação de fato anticíclica nas recessões (evitando o risco de “expansões fiscais contracionistas”). Para que isso aconteça, é preciso ter regras fiscais bem desenhadas e calibradas, bem como instituições fiscais que atuem como verdadeiros “cães de guarda” das contas públicas.
Fazendo uma conexão dessa discussão com os protestos recentes no Chile, temos o seguinte: o país latino-americano “liberalizou” fortemente a economia (as socialdemocracias nórdicas também – ver novamente a figura anterior), mas não aprofundou as políticas públicas típicas de um welfare state. Ou seja, o Chile seguiu um modelo mais trickle-down, a la Reagan / Thatcher (que alguns classificam como “fundamentalismo” ou “libertarianismo” de mercado – ou, simplesmente, neoliberalismo).
Com efeito, a despeito de o Chile ter hoje, um PIB per capita que é praticamente o dobro do brasileiro, a felicidade subjetiva dos chilenos somente ultrapassou a brasileira recentemente, por conta de nossa recessão (uma das piores de nossa história) e lenta recuperação (a mais lenta de nossa história). Vale notar que, em ambos os países, a felicidade subjetiva mostra tendência de queda pós superciclo de commodities (1999-2011, segundo a datação de Reinhart, Reinhart & Trebesh 2016).

No caso chileno, o denominador comum nos protestos recentes parece ser um sentimento de insatisfação quanto à capacidade das políticas governamentais (ou a ausência delas) de entregar bem-estar de forma mais inclusiva e “espalhada”, que aflorou em meio à perda de fôlego de crescimento econômico pós superciclo de commodities (muito embora o Chile tenha conseguido suavizar essa “transição” por conta de seu altamente elogiado arcabouço de metas e instituições fiscais estruturais – que o Brasil deveria copiar, em minha opinião...).
Convém assinalar que a evidência empírica recente aponta que a felicidade subjetiva (“utilidade”) não depende apenas do nível de renda absoluto de cada indivíduo, mas também da renda relativa (Rickardsson & Mellander 2017), dentre ouros fatores. Isso só reforça a prescrição de que os aspectos distributivos não podem ser ignorados na formulação das políticas públicas, em contraste com o defendido até recentemente por um dos expoentes acadêmicos da macroeconomia mainstream, Robert Lucas: “Of the tendencies that are harmful to sound economics, the most seductive, and in my opinion the most poisonous, is to focus on questions of distribution.” (Lucas 2004).
Voltando aos protestos chilenos, o presidente chileno Sebastián Piñera, após alguns dias de manifestações, fez um mea culpa:
“É verdade que os problemas não ocorreram nos últimos dias. Eles estavam se acumulando há décadas. Também é verdade que os diferentes governos não foram capazes de reconhecer essa situação em toda a sua magnitude. Reconheço e peço perdão por essa falta de visão”.
E, ato contínuo, anunciou uma série de medidas que, na prática, irão reforçar consideravelmente o estado de bem-estar social chileno: além de voltar atrás no reajuste do metrô, Piñera cancelou um reajuste de 9,2% da tarifa de eletricidade (prometendo a adoção de um mecanismo de suavização); reajustou o salário-mínimo em 16%, bem como pensões e benefícios sociais em 20%; determinou uma renda mínima para trabalhadores com jornada completa (com o governo complementando); dentre outras sinalizações (alíquota marginal IRPF de 40% para os “ricos”, um teto de gastos privados para saúde, a partir do qual o governo complementaria as despesas dos cidadão, dentre outras). Vale notar que já tramita no Congresso chileno, desde o final do ano passado, proposta de reforma da previdência, criando uma contribuição patronal para além dos 12% de contribuição individual (a contribuição total iria para 14% a 18%, com parte desse incremento sendo direcionado para a conta individual e outra financiando um “pilar solidário”). O debate sobre essa reforma se iniciou há alguns anos, em resposta a manifestações contra o fato de que a taxa de reposição do sistema previdenciário chileno, de pouco mais de 30% do salário ao final da vida laboral (praticamente metade da média da OCDE), é uma das mais baixas do mundo.
Para finalizar este post, eu diria que, de um modo geral, os protestos recentes no Chile e mesmo em vários outros países democráticos (não misturar com os protestos que questionam regimes totalitários) levantam alguns insights importantes do ponto de vista do policymaking:
- A chamada “Visão do bolo”, eficiência/crescimento vs equidade, é muito simplista: é possível (e desejável) combinar avanços nos dois campos, sobretudo nos países que estão aquém da fronteira. Desigualdade de oportunidades piora crescimento econômico e desigualdade muito elevada e crescente de resultados gera insatisfação e instabilidade política (levando muitas vezes ao populismo e autoritarismo por vias democráticas);
- Necessidade de ter um acompanhamento em “tempo real” sobre quem está se apropriando do crescimento econômico (Distributional National Accounts); e
- Necessidade de ter um acompanhamento em “tempo real” de medidas subjetivas de bem-estar/felicidade, bem como de compreender como os indicadores econômicos e políticas governamentais afetam tais medidas (não somente a média/mediana, mas também a distribuição).
*Braulio Borges é graduado em Economia e mestre em Teoria Econômica pela FEA-USP, recebeu o Prêmio Tesouro Nacional pela sua dissertação de mestrado em Finanças Públicas. Atuou no departamento econômico da Telefónica e foi professor de Macroeconomia na Pós-Graduação da GVLaw. Atualmente é economista-sênior da área de Macroeconomia da LCA e pesquisador-associado do IBRE/FGV.