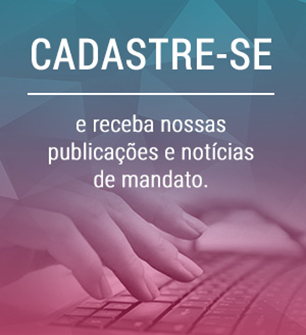Carta Capital: ‘Doutrina do choque” explica Brasil de Michel Temer
Neoliberalismo radical não ganha eleição e precisa de crise, até artificial, para ir adiante, segundo livro de jornalista canadense

Homem do "mercado" de Temer, Meirelles acredita na "mensagem reformista" para 2018
Carta Capital – 26/08/2017
por André Barrocal
O economista Paulo Hartung, governador capixaba adepto de medidas neoliberais, acaba de dizer em uma entrevista ao jornal Valor que o País precisa abraçar as reformas pois “estamos em guerra”. No mesmo dia, o governo anunciava a privatização da Eletrobras, maior fornecedora de energia, depois faria o mesmo com os principais aeroportos (Congonhas e Santos Dumont) e a Casa da Moeda e ainda extinguia uma reserva mineral no Norte para liberar a exploração privada de ouro.
Se restava alguma dúvida sobre a essência do governo Michel Temer após congelamento de verba da área social por duas décadas, neutralização da CLT via reforma trabalhista, permissão para multinacionais explorarem o pré-sal sem a companhia da Petrobras, entre outras realizações, não há mais. O Brasil está sob uma “Doutrina do Choque”, ideia descrita em um livro homônimo de 2007 pela jornalista canadense Naomi Klein.
A tese é simples. Há um tipo de neoliberalismo difundido pela Universidade de Chicago (EUA) a partir dos anos 1950, por obra do norte-americano Milton Friedman, a pregar que o Estado não deve atuar em nada na economia. Nada. A radical teoria teria sido testada pela primeira vez no Chile após o golpe de 1973 que derrubou o socialista Salvador Allende e alçou ao poder o general Augusto Pinochet. Alguns dos Chicago Boys colaboraram com a ditadura de Pinochet, Friedman inclusive.
Para Naomi Klein, a proposta é tão radical e prejudicial às pessoas, por aumentar a pobreza e a riqueza apenas de uma meia dúzia, que só pode ser aplicada em situações excepcionais. Casos de ditaduras como a chilena. Da Polônia e da Rússia pós-comunismo na virada da década 1980 para 1990. Da transição do apartheid na África do Sul nos anos 1990. Ou no governo de um candidato que na eleição não disse nada a respeito de radicalizar, como ocorreu na Bolívia na década de 1990.
Em suma, ninguém ganharia uma eleição presidencial, ao menos em países em desenvolvimento, ao propor desfazer-se do patrimônio nacional com privatizações e aplicar totalmente o livre mercado, formas de encarecer o custo de vida, nem com promessas de fazer pesados cortes de verba na área social de modo a desproteger os cidadãos carentes.
É o que ocorre com o governo Temer, nascido do jeito que nasceu, não das urnas. A venda da Eletrobras provocará um “efeito perverso” para o consumidor: alta da conta de luz. Quem acaba de dizer isso foi a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O congelamento dos gastos sociais, a reforma trabalhista e a pretendida reforma da Previdência são formas de desproteção social.
Não é à toa que um dos ideólogos das propostas de Temer, o economista Roberto Brant, dizia em abril de 2016, dias antes da posse interina do peemedebista, que seria preciso fazer as coisas meio “na marra”, “agir meio muito rápido”. Uma “terapia do choque”, diria Naomi Klein.
Para essa turma neoliberal, a democracia é um entrave às reformas radicais pró-livre mercado. Em entrevista à Folha no início de agosto, o tucano Armínio Fraga, presidente do Banco Central no governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), esteve a ponto de dizer que política e eleições atrapalham o PIB. Anda impaciente com um Congresso que tachou de “atrasado” por não ter aprovado ainda uma reforma dura das aposentadorias.
Com tal posição, fez lembrar o economista norte-americano Jeffrey Sachs, uma das estrelas da “Doutrina do Choque”, colaborador de vários países que abraçaram a dita terapia, como a Rússia, conforme o livro de Naomi. Quando o então presidente russo Boris Yeltsin fechou o Congresso em 1993, pois os parlamentares resistiam a votar medidas anti-povo, Sachs comentou na Reuters de 6 de outubro: “Agora sim teremos a oportunidade de fazer algo”.
Não faltou apoio também do Tio Sam. Um dia antes, 5 de outubro, o então secretário de Estado dos EUA, cargo equivalente a ministro das Relações Exteriores, Warren Christopher, aparecia no jornal Boston Globe a declarar: “Os Estados Unidos não dão tão facilmente seu apoio à suspensão de um parlamento. Mas esses são momentos extraordinários”.
Já a criação de um segundo parlamento, caso da recente Assembleia Nacional Constituinte na Venezuela, os EUA condenam mais facilmente, se patrocinada por um mandatário longe do figurino neoliberal, o chavista Nicolás Maduro.
A “terapia do choque” na área econômica muitas vezes requer a força bruta para se impor. Por isso é mais fácil aplicá-la em ditaduras, onde o medo de protestar é permanente, ou em governos dispostos a apelar às armas de vez em quando, como aconteceu na Rússia e na Polônia. Um modo de deixar as populações amedontradas.
No Brasil, o aparente anestesiamento popular pós-impeachment colaborou para o duro ajuste neoliberal. Mas também houve o uso de baionetas, vide a convocação do Exército por Michel Temer para reprimir uma manifestação em Brasília por sua saída do cargo 24 em maio e a decisão dele, revogada um dia depois, de botar os militares para patrulhar as ruas da capital federal.
A utilidade de uma crise aos planos neoliberais leva alguns economistas dessa linhagem a pensar que provocar confusão pode ser uma boa. Foi o que afirmou, em voz alta, um economista ligado ao FMI durante um evento da entidade em janeiro de 1993, quando a “doutrina do choque” era aplicada pelo globo. Com a palavra, John Williamson, no relato de Naomi Klein:
“Haverá que se perguntar se poderia ter sentido conceber a provocação deliberada de uma crise para eliminar os obstáculos de caráter político que podem se apresentar às reformas. No Brasil, por exemplo, se tem sugerido em algumas ocasiões que valeria a pena avivar um pouco o processo de hiperinflação se com ele se assusta suficientemente a todo mundo para que aceitem mudanças.”
O “mercado” esforçou-se para causar uma crise na gestão da petista Dilma Rousseff, portadora de ideias não-neoliberais. Em 2013, houve a “inflação do tomate”, surgida devido à queda a níveis inéditos da taxa de juros oficial do Banco Central (BC), aquela que proporciona lucros gordos aos rentistas do sistema financeiro.
Na virada para seu abortado segundo mandato, Dilma enfrentou uma crise fiscal e da dívida. E aí sucumbiu. Traiu o discurso de campanha, nomeou o Chicago Boy Joaquim Levy para o ministério da Fazenda e abraçou a austeridade. As tarifas públicas, como luz e gasolina, subiram, os gastos sociais, como o Fies e seguro desemprego, desceram. Tudo em vão. O “mercado” não ficou satisfeito, a petista seria derrubada um ano depois.
Logo após o impeachment, Temer foi aos EUA, para a Assembleia Geral da ONU, e almoçou com endinheirados estrangeiros em um hotel. Era 21 de setembro de 2016 e ele comentou que Dilma caíra por não adotar a agenda neoliberal que norteia o atual governo, explicada no documento “Ponte para o Futuro”. “Como isso não deu certo, não houve adoção [da Ponte], instaurou-se um processo que culminou agora com a minha efetivação como Presidência.”
As privatizações são um dos pilares desse receituário, como está em vias de ocorrer com aeroportos, a Eletrobras e uma reserva de ouro. “Para a teoria econômica da Escola de Chicago”, escreve Naomi Klein em seu livro, “o Estado é hoje uma fronteira colonial que os conquistadores empresariais saqueiam com a mesma determinação e energia implacáveis com as que seus predecessores arrasaram com o ouro e a prata dos Andes para levá-los consigo”.
A pressão para criar crises às vezes tem lances barra-pesada da patota neoliberal, embora pareçam travestidos de algo “técnico”. Em 1993, diz Naomi, seu país, o Canadá, viveu uma crise da dívida. O governo podia ou subir impostos ou cortar gastos com saúde e educação, políticas públicas populares por lá. Deu alternativa B, graças a um terror espalhado pelo “mercado” via mídia sobre a situação das contas públicas e a necessidade de escolher a alternativa “correta”.
Na época, Vicente Truglia, chefe da análise das finanças canadenses na Moody’s, agência de rating dessas que dão nota a países conforme a possibilidade de credores tomarem um calote, recebeu muita pressão do “mercado” para rebaixar a nota do Canadá, mesmo sem motivo para isso. “É o único país do mundo de que me encarrego onde, habitualmente, me encontro com cidadãos do próprio lugar que querem que se baixe a classificação”, contou ele a Naomi Klein.
Pode acontecer o contrário também, um acertozinho entre governo e agência de rating para esta agir de modo a mostrar que está tudo bem. Acaba de ocorrer com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e a Standard and Poor’s.
Meirelles anunciou há alguns dias a ampliação em 200 bilhões de reais do rombo fiscal acumulado até 2020. Quando Dilma mandou em 2015 um orçamento ao Congresso com rombo de 30 bilhões, a agência rebaixou a nota do Brasil. Agora, fez o oposto. Emitiu um comunicado durante o anúncio do ministro, a revelar que tinha tirado o País de um monitoramento especial.
Registre-se: nos dias em que negociava o rombo dentro do governo, Meirelles conversava com a S&P, agência que justificou o comunicado positivo apontando a reforma trabalhista feita recentemente e a proposta de reforma da Previdência que segue na mesa.
Naomi Klein diz em “A Doutrina do Choque” que o neoliberalismo radical não ganha eleição e precisa de uma crise, inclusive fabricada, para ser aplicado contra o interesse da população. No caso brasileiro, o pânico já parece ser ensaiado para ganhar as ruas durante a eleição de 2018. É a opinião do economista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito.
Meirelles, o homem do “mercado”, agradece. Um sonhador com a Presidência, o ministro deu uma entrevista à Folha, publicada na terça-feira 22, e arriscou: “Uma mensagem reformista deve ganhar a eleição”.