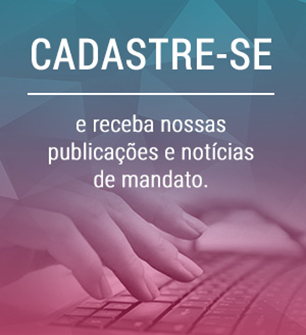Guilherme Boulos, do MTST: “É preciso retomar trabalho de base”
Entrevista à Redação de Outras Palavras – 29/09/2015
Numa época árida, em que a esquerda brasileira parece incapaz de produzir inovações políticas ou mesmo de se livrar das contradições em que atolou, o MTST – Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto – tem despontado como uma fonte singela, mas promissora, de boas surpresas. Há dois anos, a organização voltou a mostrar que é possível mobilizar a sociedade – em especial, os mais pobres – em favor de mudanças estruturais. Três enormes ocupações de terrenos ociosos em São Paulo reacenderam as chamas da Reforma Urbana e de metrópoles para todos.
Pouco depois, os sem-teto assumiriam – em manifestações de rua sempre capazes de reunir milhares ou dezenas de milhares de pessoas – o protesto contra deformação dos “megaeventos esportivos”, convertidos em novo motor da especulação imobiliária. Arrancariam da Câmara Municipal paulistana o reconhecimento do Direito à Moradia, na formulação do novo Plano Diretor do município. Desenvolveriam uma crítica refinada ao “Minha Casa, Minha Vida”, propondo livrá-lo do controle das granes empreiteiras. Demonstrariam na prática que isso é possível, ao aproveitar uma brecha do projeto para erguer, autonomamente, um conjunto de prédios de apartamentos dignos, equipados com serviços públicos avançados e relativamente confortáveis. Jogariam, mais recentemente, um papel destacado na luta contra a agenda de retrocessos sociais e políticos impulsionada pelos conservadores.
Mas até que ponto o MTST tem condições de ir além das lutas específicas por moradia e se converter num ator político universal – ou seja, capaz de inspirar e estabelecer diálogos com o conjunto da sociedade? Para tentar encontrar a resposta, a redação de Outras Palavras conversou por várias horas com Guilherme Boulos, o coordenador dos sem-teto com mais visibilidade pública. O encontro foi o primeiro de uma série que busca sondar caminhos para algo que nos parece cada vez mais crucial: construir um novo projeto de país, que supere os tímidos avanços dos últimos 13 anos, agora bloqueados pela acomodação e pela recusa a enfrentar o ranger de dentes das elites.
O resultado foi uma vasta entrevista, que começamos a publicar abaixo, em quatro capítulos provocadores. Neles, Boulos expõe sua visão particular sobre a conjuntura brasileira. Sua ideia de que o período de conciliações se encerrou. Sua crítica a uma esquerda que se institucionalizou a ponto de associar mudanças na correlação de forças na sociedade à mera conquista de prefeituras, governos de estado ou bancadas parlamentares. Sua aposta num programa de “reformas de base” semelhante ao que eletrizou o país no pré-1964, mas ausente na fase de “mudanças fracas” que marcou os governos a partir de Lula. Sua noção de que, para não sucumbir, o que chamamos de “lulismo” precisaria reinventar-se, ingressando numa fase muito distinta da que assumiu até agora.
Mas o coordenador do MTST vai além. Ao propor que a chamada “esquerda” supere o que foi em sua primeira fase no governo do Brasil, ele não se limita a formulações genéricas. Assume polêmicas. Contesta, por exemplo, duas das visões que mais povoam as esperanças de quem se esforça por enfrentar a ofensiva conservadora.
Para Boulos, não é hora de fundar um novo partido – seria criação a frio, porque ainda falta a mobilização social que permitiu, na Espanha, a emergência de um Podemos. Com a mesma convicção, recusa-se a engrossar o coro dos que creem num sebastianismo brasileiro, num “Lula 2018”, enxergando como grande esperança a reentronização do presidente que supostamente encarna os sonhos perdidos. Seria requentar um café fraco, parece pensar Boulos.
Nas duas partes finais da entrevista, surge o que alguns julgarão mais instigante. Aparece o Boulos que analisa, além do cenário político, a formação social do país e as teorias que podem alimentar sua mudança. Nestas seções, o coordenador do MTST sugere, por exemplo, que é necessário promover um encontro entre o feminismo clássico – abraçado, no Brasil, principalmente pelas classes médias – e as mulheres lutadoras de periferia, que conquistaram menos até o momento, mas desafiam e rechaçam, no coditiano, as leis de ferro de um país muito machista. Ele também revela como bebeu tanto no marxismo quanto na psicanálise, e por que acredita que Marx e Freud encontram-se em certas esquinas – por exemplo, nas conexões entre as teorias da alienação e o papel limitado da consciência e do discurso, na constituição psíquica do ser humano.
Voltado, há cinco anos, a grandes temas da globalização e das alternativas, Outras Palavras busca ligá-los cada vez mais, numa conjuntura difícil, aos desafios brasileiros contemporâneos. A entrevista com Boulos é parte destacada deste esforço. Fique com ela, a seguir. (A.M.)
Você acaba de lançar um novo livro: De que lado você está.Devolvemos a pergunta: de que lado você está, Guilherme Boulos?
Esse título é provocativo. A possibilidade de não escolher lado está ficando mais reduzida na sociedade brasileira. Os doze anos de governo petista foram uma tentativa de construção de uma ideologia do consenso. Não havia lados: era o lado do Brasil, onde estavam Odebrecht, Friboi, sindicatos, movimentos sociais… Um consenso em que, aparentemente, todos ganhavam.
Fizeram-se manejos na política orçamentária que permitiram avanço gradual no salário mínimo, crédito farto, programas sociais e, ao mesmo tempo, lucros recordes no setor financeiro, com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) distribuindo dinheiro para alguns setores escolhidos, particularmente agronegócio e construção.
Quando encolhe a situação econômica, não dá mais para bancar tudo isso. Temos uma primeira explosão em junho de 2013 já como expressão do esgotamento desse modelo de consenso. E isso foi se revertendo numa polarização da sociedade: a que tivemos depois de junho de 2013, nas eleições do ano passado, no primeiro semestre desse ano são expressões da necessidade de tomar lado.
Não há mais condições de pensar a política brasileira sem fazer essa pergunta: de que lado você está? Se está do lado do andar de baixo, dos trabalhadores, das classes populares, isso significa propor reformas estruturais. É muito difícil pensar novos avanços sem tocar no tema distributivo, dos privilégios, das reformas tributária, urbana, agrária, política, das comunicações. Ou então se toma o outro lado, que é o caminho que, lamentavelmente, o governo Dilma Rousseff tem tomado, que é reproduzir um ajuste no pior estilo neoliberal, recessivo, que faz o andar de baixo pagar pela crise.
Haveria condições de o governo tomar outro caminho? A correlação de forças permitiria?
Você pode legitimar as posturas mais conservadoras dizendo que não há relação de forças. Você legitima os doze anos de PT, a aliança com PMDB, fechar acordo com o agronegócio sem fazer reforma agrária, fechar acordo com a construção civil sem fazer reforma urbana, tudo porque não tem correlação de forças. Ora, correlação de forças se constrói.
Quando se tem o Executivo federal na mão, tem-se um instrumento poderosíssimo para alterar relações de forças. Se, ao invés de indicar Joaquim Levy para o ministério da Fazenda, indicar um ministério vergonhoso, ficar refém do parlamento; se, em vez disso, Dilma tivesse falado no discurso de posse: “Estou mandando um projeto de reforma tributária com taxação de grandes fortunas para a Câmara amanhã.” Iria passar? Claro que não. Mas você criava outra agenda política.
O Congresso ia ter que explicar por que não quer que rico pague imposto. Não íamos estar discutindo redução da maioridade penal. Medidas assim poderiam construir um caldo social: aqueles mesmos setores que se mobilizaram no segundo turno, os movimentos sociais, iriam pressionar o Congresso. Mas não se teve nem opção política, nem coragem de fazer isso. Para eles, o argumento da relação de forças é uma muleta. É de um pragmatismo político rasteiro, que acaba degenerando num conservadorismo em que não há outras saídas.
O que Dilma fez não foi ponto fora da curva. Dada a trajetória do PT e a trajetória pessoal da presidente, era algo esperado. Por que nos tornamos reféns?
Não acho que a gente ficou refém. Se você pensar no posicionamento da esquerda crítica, que alternativas nós tínhamos no segundo turno das eleições? Não sou daqueles que acham que era melhor o candidato do PSDB, Aécio Neves, ter ganhado. Pode-se dizer que, nesse caso, o PT seria forçado a tomar posição. Ora, cá entre nós, que legitimidade teria o PT, hoje, para conduzir uma oposição de esquerda num governo do PSDB depois de doze anos tendo feito o que fez?
Dilma era a alternativa que estava colocada no segundo turno. Não acho que foi um erro dos movimentos sociais, que declararam apoio crítico à Dilma, tê-lo feito. Mesmo antevendo o que aconteceria. Como você mesmo disse, não foi uma surpresa: “Ah, fomos traídos! Depositamos nossa confiança na Dilma e fomos traídos!” Não, nós sabíamos o que estava em jogo e sabíamos as limitações e os níveis de comprometimento do projeto petista.
Dilma teve mais financiamento empresarial do que Aécio no segundo turno. Do ponto de vista do projeto econômico, de comprometimento com as elites, só se iludiu quem quis. O que está colocado, para nós, é precisamente o desafio de pensar política além do processo eleitoral, da institucionalidade e das urnas. Talvez uma das lições que a gente pode tirar de doze anos de PT é que o projeto de tentar provocar alguns avanços dentro desse sistema político, de tentar tensioná-lo, sem mudar nada no essencial… – a lição é que esse projeto se esgotou.
É preciso recuperar algo que tivemos com força na década de 1980, com um ascenso da mobilização social no Brasil, que o neoliberalismo matou e que o PT sepultou. São as ruas como espaço de decisão política, transformação política. Esse é nosso desafio, para além de pensar 2016, 2018 ou ficar se remoendo de 2014.
Mas temos que criar espaço e ampliar espaço a partir de margens estreitas hoje. Para a grande maioria da população, esquerda é PT. Acrítica tanto à onda conservadora quanto ao PT reúne uma parcela reduzida da sociedade
Não concordo. Penso que o campo que defende reformas profundas e estruturais no Brasil talvez nunca tenha sido tão grande. Não nos vejo isolados ou apequenados. Desde a década de 1990 esse campo, ou uma parte dele, importante, colou-se ao projeto e à estratégia petista. Vivemos a consolidação de um discurso fortíssimo dentro do PT – muito antes de 2002 – que era: “Temos que fazer as concessões necessárias para poder chegar ao governo federal. Lá é onde temos que fazer nosso projeto.” Os governos do PT chegaram a ter 80% de aprovação, mais que isso, e não ousaram colocar uma agenda política mais dura no país. Isso é uma opção, é o caminho que o PT trilhou e ao qual uma parte da esquerda brasileira, que defende mudanças estruturais – uma esquerda anticapitalista – ficou muito associada, achando que dava para fazer a disputa por dentro.
Nunca fomos tão grandes, você disse. Num certo sentido, é chocante, mas é verdade, porque estávamos diluídos. Agora, as coisas estão claras. Podemos ser uns 10% da sociedade.
Essa é a vantagem de as coisas ficarem mais claras. A estratégia de fazer mudanças sem grandes rupturas está definitivamente esgotada. Isso cria condições para o nascimento de uma nova esquerda e a construção de um novo ciclo de esquerda no Brasil. Mas é preciso ponderar um ponto. Quando falamos em nova esquerda, logo vem à cabeça das pessoas o Podemos – ou algum movimento ao estilo do Podemos –, da Espanha. Há uma euforia, e acho que justificada, pelo fenômeno Podemos. Ganhou as eleições em Barcelona, é uma força política expressiva com chances reais de ganhar o poder na Espanha. Mas o Podemos nos ensina coisas interessantes. Uma delas é que não se constrói um processo dessa natureza sem centenas de milhares de pessoas nas ruas, que foi o movimento dos Indignados. O Podemos é herdeiro direto disso.
Temos que transformar nosso ânimo com um fenômeno como esse em disposição política de retomar trabalho de base na esquerda. A esquerda tem que se mobilizar, tem que fazer a lição de casa que deixou de lado nos últimos vinte anos. A lição de casa que as Comunidades Eclesiais de Base nos ensinaram na década de 1970 e 1980, batendo de porta em porta. Por que a bancada evangélica está tão forte? Por muitas razões, claro: tem canais de TV, mas, dentre outras coisas, eles fazem trabalho de base nas periferias. Cada rua de qualquer bairro periférico da região metropolitana de São Paulo tem duas ou três igrejas, em garagens, distribuindo panfletos. Esse trabalho de base, que acabou sendo desprezado por uma parte da esquerda, precisa ser retomado. Não vamos reconstruir ascenso de massa no Brasil sem isso. Não surge.
Fundando um partido novo, não é?
Fundar partido a frio não vai resolver o problema político da esquerda brasileira. O que vai resolver é botar a mão na massa e reconstruir capacidade de mobilização social para reverter a relação de forças e aí pensar em instrumentos políticos.
Que agenda poderia aglutinar essas pessoas?
Às vezes, a gente fica esperando uma agenda, uma palavra mágica, pra “pegar”, com a lógica do marketing. Qual é a agenda do Podemos? Qual foi a agenda do Syriza? Agendas óbvias e simples: contra os despejos, contra as políticas de austeridade. Não inventaram a roda! Nada disso. Mas são agendas que tocam em problemas essenciais de uma sociedade capitalista em crise, de um processo de indignação diante da contradição entre os padrões de vida decrescentes e um sistema político voltado para os negócios privados, onde os agentes desse sistema se locupletam com dinheiro público. A partir disso construíram-se palavras de ordem que mobilizaram centenas de milhares – e continuam mobilizando.
O tema que está posto para nós, hoje, é o das reformas populares. São aquelas alterações essenciais na estrutura da sociedade brasileira que, com todas as suas limitações, João Goulart colocou em 1964, tomou um golpe 15 dias depois e então essa agenda desapareceu. O PT não retomou essa agenda, em nenhum momento.
Reforma tributária parece uma coisa abstrata. Mas 51% da arrecadação tributária brasileira no último ano foi sobre o consumo, menos de 4% sobre a propriedade e menos de 20% sobre a renda. É uma coisa impressionante, uma estrutura tributária regressiva: pobre paga proporcionalmente mais imposto que rico. Não temos imposto sobre distribuição de lucros e dividendos, grandes fortunas, herança, remessas de lucros para o exterior. São questões elementares que uma parte do capitalismo mundial fez e que, se fossem feitas no Brasil, dariam as condições econômicas para que não se precisasse pensar em nenhum ajuste fiscal no estilo que está sendo feito.
Reforma do sistema político? Temos uma coisa esquizofrênica. Surgem a cada semana novos escândalos de corrupção, cada um mais evidentemente que o outro ligado ao financiamento empresarial de campanha. Mesmo nesse período, legitima-se o financiamento empresarial de campanha no Congresso Nacional, e a mídia e os paneleiros guardam a panela na gaveta. São questões escandalosas.
O tema da democratização das comunicações, a reforma urbana, a reforma agrária, essas questões estruturais precisam ser condensadas num programa popular. Esta é a saída. Nós temos de reconstruir uma pauta estratégica da esquerda brasileira que é uma agenda de enfrentamentos.
Você vai construir reforma agrária de braços dados com o agronegócio, que recebe créditos públicos? A Odebrecht vai querer uma reforma urbana no Brasil? Os grandes financiadores de campanha vão aceitar uma reforma tributária? Vamos fazer acordo com os donos da mídia para aprovar a democratização das comunicações? É impensável. O PMDB vai aprovar a reforma política? São temas de uma estratégia de conflitos, de tomar lado. É o que precisamos reconstruir no debate brasileiro.
No Brasil, o que poderia organizar uma alternativa com potencial político – de movimento e eleitoral – está mais para uma frente, como o Syriza na Grécia, ou uma rede de cidadãos, como o Podemos na Espanha?
Antes de pensar no formato de incidência eleitoral, nós precisamos pensar no que é o pressuposto para fazer isso de forma mais autônoma. Na situação política brasileira, nenhum formato daria certo se não houvesse, por trás, um amplo movimento social – que nós não temos ainda. Aqui, quem ocupou este espaço de enfrentamento da política tradicional, do discurso da horizontalidade, foi Marina Silva. É uma caricatura desgastadíssima disso. O que também pode ser uma caricatura de frente popular é a eventual articulação para a candidatura de Lula em 2018. Seria mais do mesmo e poderia significar uma forma de o PT se blindar atrás de uma frente que não acrescenta nada em termos de enfrentamento de classes.
Por isso, antes de pensar numa alternativa eleitoral, e talvez independentemente de qualquer alternativa eleitoral, temos de pensar num fortalecimento da luta popular. É importante, hoje, pensar numa estratégia de frente – mas uma estratégia de frente de movimentos, construindo uma unidade popular, fazendo trabalho de base, mobilizando milhares de pessoas pelo país: tanto para enfrentar a ofensiva conservadora como para enfrentar as políticas esgotadas do governo do PT. Precisamos de uma frente que faça isso no Brasil. Ela não é eleitoral, porque, se for, acaba no dia seguinte.