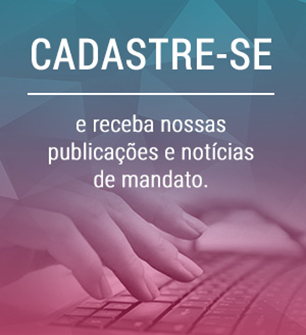Laura Carvalho:“Acabou o dinheiro para o enfrentamento da crise?”
É verdade que governo está gastando mais do que arrecada na pandemia, mas isso não é novidade nem particularidade do Brasil

Laura Carvalho
Portal Nexo 28/05/2020
O jornal O Globo noticiou no dia 23 de maio que o Ministério da Economia estaria preparando um pedido de empréstimo da ordem de 4 bilhões de dólares a um conjunto de instituições financeiras multilaterais, entre as quais o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e o Banco dos Brics. Quando se trata das medidas anunciadas pela equipe econômica do governo Bolsonaro, é fato que nunca se sabe o que realmente vem. Provocações, recuos e conflitos internos são demasiado frequentes. Mas a mera possibilidade de uma tomada de empréstimos em dólar pelo governo brasileiro para combater a pandemia serve para disseminar ainda mais um mito que já tem causado estragos há algum tempo no país: o de que o dinheiro acabou.
Sim, é verdade que o governo brasileiro está gastando mais do que arrecada, o que implica em um maior endividamento público. Mas isso não é nenhuma novidade e muito menos uma particularidade nossa. O setor público funciona em boa parte do mundo de forma distinta de uma família: a cada mês em que as despesas superam as receitas, o governo não necessariamente precisa ir a um banco pedir um empréstimo, pois pode obter os recursos vendendo novos títulos públicos para investidores no mercado. Esses títulos são adquiridos porque rendem juros ao longo do tempo para quem compra, ou seja, o governo paga uma remuneração para quem comprou esses pedacinhos da dívida. No Brasil, os títulos da dívida pública estão nas mãos dos mais diversos detentores de riqueza: indivíduos que colocam parte da sua poupança em títulos (via Tesouro Direto), seguradoras, fundos de pensão, fundos de investimento, investidores estrangeiros, etc. Muitos dos fundos com remuneração oferecidos pelos bancos aos seus correntistas estão atrelados aos rendimentos obtidos pela compra de títulos públicos.
E o que acontece se um governo não consegue arrecadar o suficiente para pagar os juros a esses detentores e realizar todos os seus outros gastos do ano? Ele emite novos títulos, em um processo que é chamado de “rolagem da dívida”. Por isso, alguns governos já tinham patamares de dívida pública superiores a 100% do PIB antes da pandemia. A dívida pública do Japão, por exemplo, deve alcançar mais de 200% do PIB após a crise da covid-19. Na Itália, as previsões já giram em torno de uma razão dívida-PIB de 160% no fim do ano.
Mas se não há um limite de endividamento pré-estabelecido, isso significa que um governo pode aumentar sua dívida indefinidamente em relação ao tamanho de sua economia? Depende. E é aí que entram perguntas muito importantes. A primeira talvez seja: de que tipo de dívida estamos falando? Trata-se de uma dívida cujos juros são pagos em moeda nacional ou em moeda estrangeira? A segunda questão, que está associada à primeira, é: há demanda no mercado por esses títulos públicos emitidos ou os investidores só querem moeda, ações, ouro ou títulos de governos de outros países, por exemplo? Nesse caso, seria necessário pagar juros estratosféricos para que os investidores comprassem esses títulos, o que levaria o governo a transferir cada vez mais renda para os mais ricos ao longo do tempo.
No Brasil, ao contrário do que ocorreu nas décadas de 1980 e 1990 ou do que ocorre ainda hoje com muitos países do hemisfério Sul (a Argentina, por exemplo), a dívida pública é remunerada em moeda nacional. Ou seja, não temos dívida em dólar com bancos estrangeiros ou com o FMI (Fundo Monetário Internacional). Ao contrário, nosso país tem um volume muito maior de reservas internacionais em dólar do que de dívida pública em dólar. Isso significa, na prática, que quando o dólar sobe, sua dívida líquida externa soberana cai, já que as reservas passam a valer mais em moeda nacional. É justamente por ter chegado a essa situação mais confortável que as fortes desvalorizações do real em 2008, 2015 ou agora, em 2020, não nos levaram a uma situação de crise cambial como a de 1999 e, sobretudo, não nos impediram de continuar emitindo dívida pública.
De acordo com as projeções da IFI (Instituição Fiscal Independente) do Senado, os gastos e a perda de arrecadação associados à crise da covid-19 vão contribuir para levar o endividamento do governo brasileiro para um patamar superior a 100% do PIB em 2026. Só as despesas com o auxílio emergencial em três meses totalizariam, de acordo com as projeções, R$ 154,5 bilhões em 2020, ou 2,1% do PIB. O déficit primário, ou seja, a diferença entre o que o governo vai gastar e arrecadar este ano, sem contar o pagamento de juros sobre a dívida acumulada, já está previsto para cerca de 7% do PIB.
Para fazer frente a esses gastos, o governo está vendendo títulos públicos em valor recorde e, ainda assim, não tem tido dificuldade de conseguir compradores. Afinal, os juros caíram bastante nos últimos anos, mas ainda estão no terreno positivo. Desse modo, ainda que a forte incerteza e as desvalorizações do real tenham expulsado muitos investidores estrangeiros do país (que hoje preferem ter sua riqueza em títulos do Tesouro norte-americano, por exemplo), os investidores nacionais também se livram de ações e outros ativos de maior risco e demandam títulos do governo brasileiro.
Isso pode nos levar a transferir ainda mais renda nos próximos anos para quem já concentra muito a riqueza no país, o que deveria ser minimizado pela elevação de impostos sobre altas rendas e patrimônios no pós-pandemia. Mas mantendo o tema de hoje: não é a falta de dinheiro que está limitando um combate ainda mais efetivo dos efeitos dessa pandemia-crise. A julgar pelo anúncio de uma eventual tomada de empréstimos em dólar pelo Ministério da Economia, que na prática nos levaria à situação estapafúrdia de trocar dívida em reais por dívida externa em um país com altíssimo patamar de reservas internacionais, as maiores restrições nesse momento estão vindo da política.
De acordo com a reportagem do Globo, esses empréstimos externos seriam divididos da seguinte forma: R$ 9 bilhões para o pagamento do auxílio emergencial, R$ 5 bilhões para o Bolsa Família, R$ 2,88 bilhões para o programa de manutenção de empregos e R$ 4 bilhões para o seguro-desemprego. Além de esses valores representarem uma parcela ínfima dos gastos já aprovados, deixando claro seu caráter supérfluo, a escolha de atrelar os empréstimos justamente aos gastos com benefícios sociais revela o desejo político de dar um passo adicional na propagação do mito da falta de dinheiro. Pelo visto, a equipe econômica quer que a população pense que não há dinheiro para ajudar os mais vulneráveis.
Laura Carvalho é doutora em economia pela New School for Social Research, professora da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo e autora de “Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico” (Todavia).