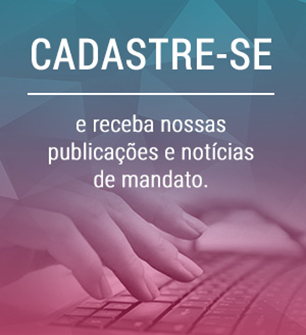Lilia Moritz Schwarcz: "Por que será que todos os nossos heróis são homens e brancos?"-

Enxergar é biológico. Ver é opção cultural. O Brasil descrito por Lilia Moritz Schwarcz, historiadora, antropóloga e autora de livros como ‘Sobre o Autoritarismo Brasileiro’ e ‘Lima Barreto: Triste Visionário’, é o de heróis brancos e masculinos, nunca negros, nunca femininos. É o Brasil inserido na civilização ocidental que, mais uma vez, enxerga e não vê quais deveriam ser seus monumentos e esculturas. É o Brasil que não vê que perpetuou a escravidão por todo o seu território - mais de 4,8 milhões de pessoas foram privadas de liberdade. É o mesmo país que, segundo a escritora, não vê que a morte de Marielle matou também um outro Brasil, com mais oportunidade. Um país que enxerga mas não vê que enquanto for racista não terá democracia. A seguir, a entrevista concedida por telefone ao Estadão.
A minha pergunta inicial seria: você é contra ou a favor da retirada desses monumentos, dessas estátuas de escravocratas? Mas não sei se é tão simples assim se posicionar de um lado ou de outro. Mas queria começar com essa pergunta.
Eu acho que a questão é equivocada, que não se trata de ser contra ou a favor porque não se trata de abrir ou fechar um partido político que seja a favor ou contra esse tipo de manifestação. Eu sou a favor da reflexão em cima desse tipo de manifestação. Eu sou absolutamente a favor porque nós crescemos com uma historiografia que se chama de universal, mas que não é universal. É uma historiografia que se detém sobretudo nas conquistas e nos feitos das sociedades européias e depois norte-americanas. Um bom exemplo aqui é por que será que no Brasil, que foi colonizado por portugueses, mas também indígenas e várias Áfricas, vários africanos, não temos na nossa história uma referência a todas essas origens? Ou seja, não se fala das inúmeras Áfricas que chegaram ao Brasil, as tecnologias, as filosofias, as culturas materiais, as religiões que vieram nos navios negreiros. Também não comentamos os inúmeros povos indígenas que estavam no Brasil quando os portugueses chegaram.
Falamos de descobrimento de uma terra que já estava densamente povoada. Os historiadores mostram que nas Américas, na América do Sul sobretudo, a população respondia, em termos de quantidade, à população da Península Ibérica no mesmo contexto. Mas, mesmo assim, falamos de descobrimento. O que isso revela? Revela uma narrativa histórica muito marcada por uma só experiência. Por que será que toda a nossa imaginação é uma imaginação branca? Por que será que todos os nossos heróis são homens e brancos? Quase não temos mulheres, quase não temos heróis negros. Se as imagens dos heróis podem ser inventadas, isso é o que acontece com boa parte dos monumentos, não sabemos como eram as imagens dessas pessoas, assim como não sabíamos qual era a imagem de Tiradentes. Ela foi criada entre o final do Império e o começo da República para que ele figurasse um herói branco, republicano, mas também religioso, por isso Tiradentes hoje na imaginação se parece tanto com Jesus Cristo. Por que será que nós não criamos uma imaginação negra?
Então, voltando a sua pergunta, porque ela está equivocada. Porque o que a gente não percebe é que esses monumentos, essas esculturas, reforçam uma imaginação somente ocidental. Mais ainda: uma imaginação, por vezes, muito violenta. Nós apaziguamos a violência. Eu sou absolutamente a favor da retomada crítica desses espaços simbólicos porque eu sou historiadora e antropóloga e eu acredito piamente na eficácia simbólica para o poder político. Ou seja, não se trata de ingenuamente contar com uma escultura de um traficante de escravos. Se trata de glorificar e enaltecer essa figura. De lembrar para esquecer. O que você lembra? Que ele foi do parlamento - estou me referindo ao caso mais gritante no momento, inglês. E o que se esquece? Que ele traficou vidas humanas durante muito tempo. E também, o que se esquece? Que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, não era só essa grande civilização. Ela compactou com a barbárie. Então, esse é o meu a favor.
Penso sim que recuperar esses espaços simbólicos é um ato muito significativo. Como nós vamos recuperar é uma outra questão. Eu, particularmente, acho que não é o caso de destruir apenas. Eu faria, por exemplo, um memorial crítico da escravidão, um memorial crítico da colonização. Ou então, colocaria ao lado dessas, esculturas que tensionem esses regimes de verdade. Esculturas que digam o oposto sobre essa pessoa. Existem muitos mecanismos de fazê-lo, mas, por vezes, é preciso começar radicalizando para que a sociedade preste atenção. Porque o que acontece no nosso cotidiano, nós não vemos. Existe uma diferença muito grande entre enxergar e ver. Enxergar é uma faculdade biológica, ver é uma opção cultural. Eu penso que os brasileiros e de uma maneira geral a civilização ocidental enxerga, não vê. É isso que fazemos diante dessas esculturas, desses monumentos.

A antropóloga e historiadora Lilia Moritz Schwarcz Foto: Amanda Perobelli/Estadão
Eu li no New York Times uma entrevista do professor (do John Jay College of Criminal Justice) Erin Thompson. Ele diz que a queda das estátuas é um sinal de que o que está em questão não é apenas o nosso futuro, mas também o passado como nação, sociedade e mundo. Nesse sentido, eu pergunto se isso é sinal de que precisa haver uma ruptura. Você entende que é um olhar para o passado tudo isso que está acontecendo a partir do movimento de Black Lives Matter?
Eu digo lá no meu livro Sobre o Autoritarismo (Sobre o Autoritarismo Brasileiro, Companhia das Letras, 2019) que o nosso presente está cheio de passado. Ou seja, que nós vivemos entre fantasmas. Disse o poeta Carlos Drummond de Andrade que toda história é remorso. O que nós fazemos com isso? Nós silenciamos os nossos fantasmas, não queremos viver com eles. O que nós estamos vivendo, não só nesse momento, também provocado pelo Black Lives Matter, mas não só, é um movimento de revisão da história. Isso não quer dizer apagamento da história. Isso quer dizer que deveríamos falar de ‘histórias’ no plural. Nós temos que ter muitas histórias para contar e não uma história para contar.
Então, o que sou totalmente contra é com essa ideia de que vamos apagar totalmente a história. Ninguém apaga. A história é assim: o historiador Jacques Le Goff falou, e também o historiador (Achille) Mbembe, que a história é feita a partir das nossas perguntas. Ou seja, por que será que a história do final do século 19 foi uma história eminentemente política e a história do começo do século 20, uma história eminentemente social? A história que nós vivemos foi uma história muito cultural e por que agora vamos viver este momento em que a história se detém sobre direitos civis? Porque essa é uma linguagem que vai nos socializando. Então, um documento nunca diz nada para um historiador. Um documento só diz a partir das perguntas que nós fizemos a ele.
Essas perguntas têm a ver com os tempos que nós presenciamos. Vou dar um exemplo prático: quando eu escrevi a biografia do Lima Barreto (Lima Barreto: Triste Visionário, Companhia das Letras, 2017), já existiam biografias fundamentais sobretudo a de Francisco de Assis Barbosa, que praticamente recriou o Lima Barreto. Eu considero que o Lima Barreto não existiria sem Francisco de Assis Barbosa. O que eu fiz lá? Fiz uma pergunta nova para o mesmo objeto, ou seja, de que maneira a tensão racial impacta a biografia de um escritor como Lima Barreto? Até dizer que Lima Barreto morreu com 41 anos e que no atestado de morte devia estar escrito assim: morreu de racismo.
Os documentos estão lá, claro, cada um acha novos documentos, mas a pergunta é que é diferente. Aquilo que nós queremos saber é que é diferente. Os arquivos da escravidão são violentos, são arquivos silenciosos e o que está acontecendo agora grandemente no Brasil e em outros países? Nós voltamos a esses arquivos coloniais e fazemos outras perguntas a eles e com isso nós achamos outros personagens, outras realidades. Escravizadas que compravam sua liberdade, e compravam a dos seus filhos também. Descobrimos tantas insurreições, tantas rebeliões, tantos atos. Não que eles não estivessem lá, eles estavam lá, mas nós precisamos fazer outras perguntas para encontrar um projeto de história que seja mais amplo, mais generoso e mais plural.
Você escreveu com Flávio Gomes na introdução do ‘Dicionário da Escravidão e Liberdade’ (Companhia das Letras, 2018) que projetando um futuro moderno se inventava um passado distante. Lá atrás, lá distante, tinha ocorrido a escravidão. Eu queria te perguntar o seguinte: o quanto da Lei Áurea, que vocês mesmo escrevem que foi breve e sem inclusão social, você acha que contribui para um racismo estrutural hoje no Brasil?
O Brasil não foi apenas o último país a abolir a escravidão mercantil, porque eu sei que existem outras formas de escravidão vigentes hoje em dia, mas foi também aquele que recebeu o maior número de escravizados e escravizadas. Dos 12 milhões de africanos e africanas que deixaram compulsoriamente o continente africano, hoje se diz que 10 milhões desembarcaram nas Américas e no Caribe. Desses, 4,8 milhões tinham como destino final o Brasil. Pelos portos do Recife, do Rio de Janeiro, Salvador, pouco importa aqui. Mas o Brasil recebeu praticamente metade dos escravizados.
Nós tivemos, diferente de outros países escravocratas, escravidão em todo o nosso território. Isso fez da escravidão mercantil mais do que uma força de trabalho, fez da escravidão mercantil uma espécie de linguagem social. E essa linguagem traz muitas consequências para nós. Eu entendo sua pergunta, que é excelente, mas eu não acho que a gente tem que dizer que tudo é culpa da Princesa Isabel. Nós tivemos trabalho escravizado em todas as partes do Brasil. Nós também não tivemos, como diz uma certa mitologia, uma escravidão pacífica. Isso seria uma contradição em seus termos porque o sistema que pressupõe a posse de uma pessoa por outra pessoa não pode ser pacífico, não é?
Nós tivemos também uma Lei Áurea, a lei de 1888, quando o Brasil aboliu a escravidão depois dos Estados Unidos, depois de Cuba, depois de Porto Rico, portanto, estávamos na lanterninha do movimento abolicionista. E fizemos uma lei muito curta e muito conservadora, uma lei que tinha uma intenção política de dar à Isabel um terceiro reinado, que acabou não acontecendo. O plano falhou. Mas o fato é que na época existiam outros projetos correndo muito mais inclusivos, que previam ressarcimentos, que previam trabalho, que previam educação, mas a nossa lei saiu curta, saiu muito breve e saiu muito conservadora. ‘Não existem mais escravos no Brasil’.
Quais são os problemas disso? Primeiro, nós divulgamos a ideia de que a Princesa Isabel nos deu a liberdade. A pergunta é a seguinte: alguém pode dar a liberdade uma vez que esse é um direito de toda a humanidade? Ninguém pode lhe dar isso. Esse foi um processo de luta, um processo que teve muito ativismo negro e a Lei Áurea foi apenas o ponto final. Mas o que acontece a partir de então? Nós temos um longo período do pós-abolicionismo que tem data para começar e não tem data para terminar. E mesmo assim, já nesse momento, você vê várias práticas discriminatórias. Ao mesmo tempo, você vê o surgimento dos artistas negros, dos jornais negros, enfim, de personagens negros que se elegem para a política, de cantores que falam das mazelas, de teatrólogos que denunciam a escravidão e assim vamos. Então, o que acontece, é que a Lei Áurea tem um papel nesse nosso racismo estrutural e institucional, este é um legado pesado que nós temos.
A pergunta e a seguinte: alguém pode dar a liberdade uma vez que esse é um direito de toda a humanidade?
Mas sua questão é muito boa porque não dá para dizer que é tudo culpa do passado porque, se não, nós fazemos a coisa que nós mais gostamos, ou seja, nós nos aliviamos da nossa culpa. E não é coisa do passado, ela é coisa do nosso presente porque no momento em que eu você conversamos aqui o Brasil pratica um racismo estrutural e institucional. Ele é estrutural porque ele está na estrutura, na base da nossa sociedade. A escravidão legou essa linguagem social muito perversa. Então, ela está na base da nossa sociedade de que forma? Nos dados sobre emprego, nos dados sobre subemprego, nos dados da saúde - na atual pandemia nós já temos dados mostrando que são as populações negras as que estão sendo mais afetadas. Nos dados da educação, porque nós sabemos que são as populações negras que menos conseguem cumprir com o ciclo básico obrigatório. É estrutural porque nós nos acostumamos a ir nos espaços sociais e não convivermos com as pessoas negras. Nós não temos uma lei do Apartheid, mas na nossa prática vivemos em cidades divididas. Não só a Lei Áurea, mas o que essa grande mitologia da democracia racial fez entre nós?
Ela naturalizou o racismo e naturalizou a diferença. O racismo também é institucional porque nós não vemos pretos e pardos, que segundo categorias do IBGE correspondem a quase 56% da nossa população, em instituições em posições de mando, de direção; ela é absolutamente desequilibrada em relação a esse porcentual. É institucional porque eu não vejo negros nas direções das escolas, quase não vemos negros no ambiente corporativo, quase não vemos negros e negras na indústria da moda, quase não vemos negros e negras nas nossas esculturas e monumentos públicos, então, isso é um racismo institucional e essa é a perversão do racismo institucional, porque ele naturaliza e faz com que as pessoas enxerguem, mas não possam ver.

Estátua do comerciante de escravos Robert Milligan foi removida de seu pedestal, diante do Museu de London Docklands Foto: John Sibley/Reuters
Você fala que o racismo é uma questão presente. E tivemos, nos Estados Unidos, a partir de um caso, uma ruptura. As pessoas vão às ruas mesmo em meio a uma pandemia. Essa ruptura talvez seja o começo de uma mudança. Olhando para o Brasil, como você acha que pode se dar essa ruptura? Ela é uma ruptura traumática, nos sentido de que pode ser violenta, ou é uma coisa de crescimento da sociedade para olhar e mudar esse presente?
Essa situação já existe há muito tempo, não é de hoje que a polícia brasileira é considerada uma das mais violentas do mundo e não é de hoje que estamos praticando um genocídio da população negra, jovem e que vive nas nossas periferias. Eu sei que o termo genocídio aplica-se a situações de guerra, mas os números são tão fortes, eu mostro no Sobre Autoritarismo que nós temos em guerras civis, como a guerra civil no Afeganistão e a guerra civil na Síria. Só que mais uma vez nós enxergamos, mas não vemos.
Há quem pergunte assim: por que será que nos Estados Unidos, que têm uma população negra que corresponde de 11% a 12%, um evento como esse do George Floyd em Mineápolis causa muito mais comoção do que aqui no Brasil a morte de Miguel, a morte de João Pedro? Eu acho que, mais uma vez, a pergunta está errada. Me lembra muito aquela conversa que Lewis Carroll faz entre Humpty Dumpty e a Alice, quando ela precisa tomar um líquido para diminuir e entrar no País das Maravilhas. E ela só tem um rótulo, que está escrito ‘Beba-me’ e ela fala como é que eu vou saber qual é o certo se o rótulo diz a mesma coisa. E o Humpty Dumpty responde: um, aquele que acredita em rótulos, em geral, se engana. Dois, aquele que faz perguntas erradas recebe respostas erradas. Eu acho que a questão é outra. A questão é que não é que a população negra no Brasil não se manifesta, mas se a gente pensar a primeira revolução republicana, que foi a Revolta da Vacina de 1904, já era uma revolta negra contra as medidas autoritárias da república.
A pergunta certa seria: por que será que a sociedade brasileira, e a mídia brasileira, de uma forma geral, não cobrem esses eventos com a devida responsabilidade que deveriam ter? De novo é uma questão de cegueira cultural. Porque nos Estados Unidos, o que acontece, essa linguagem dos direitos civis, a linguagem do direito, a diferença na universalidade é um ganho do século 20. Democracia sim, é projeto inconcluso. Mas é certo que nós só chegamos nessa linguagem dos direitos civis como nação no final da década de 1970. Então, eu acho que o que está acontecendo aqui no Brasil, no mundo também, é essa ideia de prestar atenção às nossas invisibilidades, prestar atenção para os nossos tantos silêncios. E os silêncios em relação às questões raciais são silêncios muito profundos.
Outro dia uma amiga minha negra estava me falando sobre as colunas sociais, e é verdade. As colunas sociais até pouquíssimo tempo e ainda continuam a ser esse espaço da branquitude. O que é a branquitude, e eu falo como branca, é o privilégio de poder estar em qualquer lugar, é o privilégio de não ser parado pela polícia, é o privilégio de não ter de entrar pelo elevador de serviço, é o privilégio de frequentar o restaurante que quiser sem que as pessoas fiquem olhando, é uma política de privilégios e essa política de privilégios será mantida se as elites não quiserem ter atitudes antirracistas.
Não é possível prever se teremos uma convulsão social, se teremos um aprimoramento da nossa cidadania, mas com os ativismos negros que eu convivo não me parece que a posição é bélica, a posição é de construir aliados. Na minha opinião o que a sociedade branca pode fazer: primeiro, mais do que dizer ‘eu não sou racista’, prestar atenção e dizer eu quero ser antirracista. A questão não é moral. A questão não é culpa. Culpa não leva longe. A questão, na minha opinião, é de responsabilidade. Ou seja, ser antirracista é adotar atos e fazer ações antirracistas. Abrir espaço nas redações de jornais para mais editores negros e prepará-los; abrir espaço nas universidades para mais negros não só na graduação, mas na pós-graduação; abrir espaço nas empresas, nos nossos consultórios, tomar atitudes antirracismo.
Se a sociedade brasileira se mobilizar, nesse sentido, quem sabe nós teremos um aprimoramento da nossa sociabilidade e não exatamente uma guerra, mas muitas vezes é preciso enfrentar, tomar atos para que as pessoas saiam da sua posição de passividade. E reflitam. Cidadania é assim, é de cada um. Não vale dizer você tem que fazer. Cidadania é feito de grandes atos e de pequenos atos, é feito do nosso cotidiano. E é preciso que a sociedade brasileira - essa sociedade que está vivendo uma crise que é social, que é política, que é econômica e que é moral, na minha opinião, como historiadora nunca vista antes - entenda também, e se pudesse eu grifava o também, que nós não teremos uma democracia enquanto continuarmos tão racistas. Ou seja, racismo não funciona com democracia e é essa luta por direitos que nós vamos ter que encampar.
Eu vou citar uma frase do Lima Barreto, que eu pesquei do seu livro, e gostaria que você fizesse uma reflexão do momento a partir dela. A frase é a seguinte: ‘Nós, os brasileiros, somos como Robinsons: estamos sempre à espera do navio que nos venha buscar da ilha a que um naufrágio nos atirou.’
Lima Barreto era uma pessoa muito contrária aos estrangeirismos da sociedade brasileira, acreditava que os brasileiros tinham mania de Madame Bovary - ele usava uma teoria do (filósofo Jules de) Gaultier chamada Bovarismo que ele dizia que nós brasileiros sempre queremos estar no lugar a que não pertencemos e sempre queremos nos imaginar em outro lugar. Lima Barreto estava coberto de verdade. Ele brincava que a nossa imaginação era grega, vamos espalhar colunas dóricas e jônicas pelo Rio de Janeiro. Mas do que ele reclamava nessa circunstância?
Dessa ideia de que os brasileiros não conseguem se apalpar, não conseguem ver o que eles são de fato. Era isso que ele criticava, que as lojas têm mania de Paris, que as ruas têm mania de Roma, de alguma forma dizendo como nós temos dificuldade de nos apalpar, de nos escutarmos e, sobretudo, de nos acolhermos nas nossas sublimes diferenças e nas nossas sublimes similitudes. Nesse momento que nós estamos vivendo uma pandemia, que pegou o Brasil de jeito, ou seja, um governo muito autoritário, um governo que sonega informações, o que é péssimo para nós planejarmos e projetarmos nosso futuro, mas essa questão do racismo, de tantos ‘João Pedros’, de tantas ‘Ághatas’, de tantos meninos Miguel, de tantas Marielles, precisa entrar na nossa agenda urgentemente. Quando Marielle morreu, eu penso que um sonho de Brasil, um sonho de Brasil mais cidadão, mais generoso, morreu com ela.
Por que que eu digo isso? Porque Marielle simbolizava um Brasil que conseguia incluir. Um Brasil difícil. Marielle usou de todas as franjas do sistema para fazer uma escola, entrar na universidade, fazer um mestrado, ser eleita como uma das vereadoras mais populares do Rio de Janeiro, ela sendo favelada, negra, gay, enfim, isso mostrava um outro Brasil, sinalizava uma outra possibilidade de Brasil.
Quando Marielle morre e nós ficamos, e continuamos, tanto tempo sem saber quem mandou matar Marielle isso fala da nossa amnésia coletiva. Isso fala muito da nossa forma de lidar com o racismo tentando escondê-lo, isso fala muito de uma perspectiva brasileira de que todos os brasileiros dizem que são contra o racismo, mas ninguém se diz racista. Então, enquanto nós não assumirmos esse lugar antirracista essa agenda vai continuar urgente e ela não pode mais ser postergada para um futuro indeterminado.
*Daniel Fernandes é reporter do caderno de cultura do jornal Estado de São Paulo