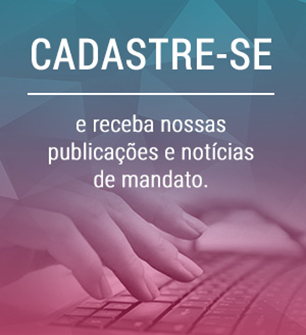Maria Cristina Fernandes: “Quando a conta do impeachment chega à mesa”
 No dia 31 de maio de 2016 o então presidente do Itaú Unibanco, Roberto Setubal, enviou um depoimento em vídeo para uma associação de analistas de investimento, no Rio. Duas semanas antes, a Câmara dos Deputados havia afastado a ex-presidente Dilma Rousseff.
No dia 31 de maio de 2016 o então presidente do Itaú Unibanco, Roberto Setubal, enviou um depoimento em vídeo para uma associação de analistas de investimento, no Rio. Duas semanas antes, a Câmara dos Deputados havia afastado a ex-presidente Dilma Rousseff.
O recado seguiu em dois minutos: "O país está passando por um momento político bastante delicado. O processo no Congresso que afastou a presidente da República está ocorrendo de uma forma organizada, ordenada, de acordo com aquilo que está previsto na nossa Constituição. Seguir a Constituição nesses momentos de incerteza é a melhor coisa que o país pode fazer".
E encerrou com otimismo: "Os políticos fizeram as escolhas que tinham que fazer, e eu acho que novas esperanças se renovam. O Brasil abre perspectivas positivas, uma relação maior das possibilidades de retomada do crescimento econômico, de uma forma mais rápida".
O vídeo de Setubal resumia a visão de seus pares no mercado financeiro. Entre 1º de janeiro e 18 de abril de 2016, dia seguinte ao afastamento de Dilma pela Câmara, o dólar havia acumulado uma desvalorização de 9% e o Ibovespa subira 22%.
"Ponte para o Futuro", como ficou conhecido o documento com o qual o MDB de Michel Temer buscou respaldo dos investidores, provocou uma embriaguez de entusiasmo. "Temos a expectativa de que o governo de Michel Temer direcione o Brasil a um novo tempo de solidez, um país pensado para fluir. Entendemos que Henrique Meirelles seja o nome certo para dar estrutura, hierarquia e clareza à política econômica. O Brasil não pode mais ficar aprisionado a esse feitiço do tempo, no qual os dias apenas se repetem. O tempo passa rápido e assim deve ser. Os desafios estão aí para serem vencidos", reagiu Luiz Carlos Trabuco, então presidente do Bradesco.
O tempo passou rapidamente nos pregões. Depois do recuo no ano do impeachment, os lucros dos bancos voltaram a crescer 14,6% em 2017. Mas o mercado não estava livre do feitiço. Na semana passada, as incertezas eleitorais fizeram o dólar encostar em R$ 4,00 e as ações na bolsa de valores de São Paulo recuarem ao menor patamar em sete meses. Os analistas já começam a revisar para baixo o crescimento da economia em 2018. O caos caminhoneiro levou os analistas a baixar a previsão de crescimento da economia para um minguado 1%.
Vinte e seis meses depois do impeachment, um resiliente terço do eleitorado ainda se agarra ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva numa eleição que ameaça a maior alienação da história. Sua prisão, outra decisão que custa a se tornar regra, deu-se num processo de agilidade ímpar da história da Justiça brasileira. A derrota pelas urnas parecia provável e tenderia a esvaziar outra pauta desestabilizadora, o indulto. A ojeriza à incerteza, no entanto, empurrou o país, mais uma vez, para fora das linhas regulamentares.
As dificuldades de o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) decolar nas pesquisas de opinião deixou o mercado, na definição de um influente operador, entre duas inquietantes polaridades: um ponta-direita canhoto e um ponta-esquerda destro. Mas essa não é a única razão pela qual o meio de campo embolou.
O deputado Jair Bolsonaro (PSL), de fato, a despeito de ter aderido mais recentemente a um liberalismo de biruta, como a privatização da Petrobras com veto ao capital chinês, tem um histórico de votos estatistas no Congresso. Por outro lado, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), apesar de assumir a centralidade da agenda da desigualdade, já anunciou as linhas de uma reforma da Previdência mais fiscalista impossível e acena para velhas raposas do Congresso.
O terceiro nome a surfar na raia do descontentamento eleitoral, Marina Silva (Rede), é considerada hoje mais independente de seus liberais conselheiros econômicos do que o fora em 2014. Os três são egressos de partidos minoritários no Congresso Nacional e custam a demonstrar os rumos de uma eventual aliança governista.
A ausência, pela primeira vez em mais de duas décadas, de doações de pessoas jurídicas, também é uma alavanca auxiliar da insegurança. Ainda que participem de um financiamento oculto por meio, por exemplo, da compra de pesquisas, bancos e empresas já não terão o mesmo peso na viabilidade eleitoral dos candidatos.
Mas o que parece, de fato, embaralhar o jogo é a ausência das linhas que demarcam o campo. E foi no impeachment que elas se tornaram mais turvas. Quem diz isso é um insuspeito Fernando Henrique Cardoso. Em seu último artigo, a definição veio com todas as sílabas: o país vive o trauma de um impeachment baseado em "arranhões de normas constitucionais".
Dilma Rousseff desarranjou o país, mas a bagunça de hoje sugere que rearrumá-lo dentro do espaço regulamentar poderia ter saído mais barato do que interromper o jogo. O regulamento que impediu o ex-presidente Lula de entrar no governo para tentar virar o jogo nunca mais voltaria a ser usado no campeonato. O apito final contou com o aplauso de uma torcida cansada de um espetáculo ruim, mas desavisada dos horrores que estavam por vir.
O mercado financeiro apostou todas as fichas na substituição de Dilma por um governo que não oferecia condições de renovar, nas eleições seguintes, a política econômica com a qual se comprometeu. O novo capitão não apenas se inviabilizaria na sucessão como desarranjaria seu próprio partido como avalista de todos os governos desde a redemocratização.
Quando Lula assumiu, na sucessão de 2002, o compromisso de manter a política monetária de seu antecessor, não o fez apenas para acalmar os mercados, mas para roubar a principal bandeira de um partido que firmara sua relevância eleitoral desde o Plano Real. Foi bem-sucedido na tarefa. O PSDB nunca mais se recuperaria da perda do discurso.
Com o MDB é diferente. Não há o que esvaziar. Com o legado do governo Temer rejeitado por nove em cada dez brasileiros, o partido, que nunca foi bom de eleição presidencial, deve, mais uma vez, claudicar no quesito. Mais do que inviabilizá-lo na disputa majoritária, o exercício do poder deslocou o partido da tarefa de mediar - e bloquear - interesses, na definição já clássica de Marcos Nobre.
O Centrão, em grande parte, tomou-lhe o lugar. Não apenas como o grande artífice do impeachment como na condição de bloco de poder capaz de manter a atual divisão de forças no país: 10% da população abocanham metade do PIB enquanto 90% dos brasileiros disputam a outra metade.
Enquanto este for o estado de coisas, pautas como a reforma trabalhista sempre contribuirão para afundar a popularidade de qualquer governante se, a pretexto de enfrentar a proverbial baixa produtividade da economia, continuarem a pesar a mão no prato mais cheio da balança.
A importância do Centrão para a continuidade das diretrizes deste governo foi definida com precisão por Luis Stuhlberger. Um dos mais agressivos gestores do mercado, com R$ 27 bilhões sob sua custódia, o fundador do Verde cunhou a imagem de que no fundo da crise havia um alçapão, que passou a ser repetida a exaustão para definir a recessão sem fim pela qual o Brasil passou.
Como todo grande gestor, sua visão da conjuntura nem sempre reflete o que pensa mas as posições que detém no mercado. Fez fortuna na contramão. Cético no início do governo Temer, aderiu ao otimismo quando todo mundo já tinha começado a desembarcar. Agora reconhece que apostou errado nas chances de o MDB ou o PSDB vencer as eleições de outubro e distribui suas fichas entre Bolsonaro, Ciro e Marina Silva.
Mas o trecho mais instigante da alentada entrevista de Stuhlberger a Geraldo Samor e Natália Viri é a inclusão do Centrão entre os motivos para se ter otimismo com o país. É a baixa renovação de um Congresso dominado por Ciro Nogueira (PP), Waldemar Costa Neto (PR) e Jovair Arantes (PTB) que mantém suas esperanças e não o contrário.
"Quanto vale um Congresso de ampla maioria de direita pragmática? Tem gente que argumenta que, entra presidente e sai presidente, o centrão vai estar sempre com eles. Eu já sou da opinião de que esse Congresso vale pelo menos para o Executivo não fazer uma grande besteira. Tem uma certa blindagem, considerando que a esquerda era muito maior, principalmente na Câmara".
O Centrão, como se sabe, está comprado em Congresso. Manobrou para ter regras eleitorais que impedissem a renovação parlamentar e, com elas, pretende arrancar bancadas que lhe garantam o controle da Câmara. O resultado das eleições proporcionais, em grande parte, lhe é mais estratégico do que o da disputa presidencial.
A entrevista de Stuhlberger revelou um relevante porta-voz do clube dos grandes investidores como sócio do Centrão nesta empreitada. A sociedade não é de hoje. Rendeu o impeachment de Dilma e o eixo excludente da agenda de reformas do governo Michel Temer. A volatilidade do mercado reflete a dificuldade deste dueto em viabilizar um candidato a presidente da República que mantenha esta agenda e vença a disputa presidencial. Por isso surgiu a âncora Congresso. A baixa renovação terá realizado o sonho dos sócios no poder: reduzir as incertezas inerentes ao processo eleitoral. Quem quer que ganhe será podado pelo vigilante Centrão.
A conta do impeachment que chega à mesa nesta sucessão, parece salgada. Os radicalismos que abriram as veredas do impeachment resistiram, desbravaram atalhos para o poder e transformaram o centro numa estrada intransitável. O futuro da parceria entre Centrão e mercado esbarra na gastança de um e no torniquete do outro, mas parece afinada em torno da única estratégia que, a médio prazo, lhes parece viável: a barricada contra esse futuro que chega pelas pontas.
Maria Cristina Fernandes é jornalista.