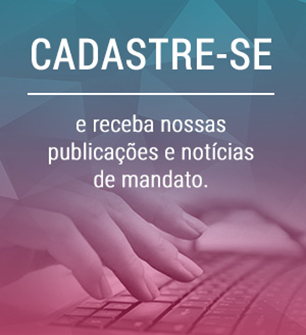Mariana Socal: 'SUS é a vantagem do Brasil no combate à pandemia'
Publicado na Revista Piauí, da edição 164 em maio de 2020 - Por Mariana Socal*
Há cerca de cinco meses, enquanto o mundo dormia, a China começava a registrar os primeiros casos de Covid-19. Desde então, a infecção se alastrou para praticamente todos os países do mundo e o número de mortos já passa dos 200 mil. Ao se espalhar por cinco continentes, o novo coronavírus está revelando, com clareza didática, as vulnerabilidades de cada país – e, sobretudo, o que há de bom e de ruim em seus sistemas de saúde.
A rápida progressão da epidemia e a falta de um tratamento eficaz ou de uma vacina têm gerado insegurança na população de vários países, produzindo mais perguntas do que respostas. Uma delas é a seguinte: Por que o comportamento da epidemia tem sido diferente em cada novo lugar afetado? Outra pergunta, que nos desperta uma curiosidade particular: Como se compara a experiência brasileira em relação à de outros países?
A chegada da epidemia no Brasil era só uma questão de tempo. Com sua relevância comercial e seu peso no transporte aéreo, com milhares de passageiros voando diariamente em rotas para o mundo todo, o país era um alvo fácil para o vírus. Certas características brasileiras – a população numerosa, a desigualdade profunda e o território imenso – apresentavam desafios gigantescos para controlar a epidemia.
Como o vírus se disseminou pelo trânsito internacional, era previsível que o risco inicial de exposição à Covid-19 se concentrasse nas camadas abastadas da sociedade. Agora, o Brasil vive a etapa seguinte: o vírus já se espalha entre a população urbana e mais pobre, que vive em áreas com maior densidade demográfica – ou seja, a maioria da população. Cerca de 85% dos brasileiros vivem em áreas urbanas, muitas densamente povoadas. Em áreas metropolitanas como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, há mais de 5 mil pessoas por km2. E, para piorar, um quarto da população brasileira vive abaixo da linha da pobreza.
Tudo considerado, o Brasil apresenta condições ideais para a propagação da Covid-19. No entanto, em meados de abril, quase dois meses depois do registro dos primeiros casos, o Brasil contava 35 casos confirmados por 100 mil habitantes, uma taxa quase nove vezes menor que a dos Estados Unidos. Também registrava um total de 2,4 mortes por 100 mil habitantes, enquanto os norte-americanos tinham uma taxa 7,5 vezes maior, de 18 mortes por 100 mil. Os Estados Unidos tiveram o primeiro caso confirmado da doença cerca de um mês antes do Brasil.
Críticos apontam que a resposta para tais diferenças pode estar na baixa quantidade de testes feitos no Brasil, contribuindo para uma subnotificação que, estima-se, pode ser da ordem de até onze casos sem notificação para cada caso notificado. No entanto, é improvável que essa explicação seja suficiente. Os Estados Unidos têm enfrentado diversos problemas próprios com relação à testagem do vírus, e estudos sorológicos sugerem que, também entre os norte-americanos, o número de casos tem sido enormemente subestimado, talvez mais do que no Brasil. Diante disso, é mais provável que outros fatores estejam contribuindo para que a trajetória epidemiológica do Brasil venha se mostrando até o momento seja mais favorável do que a norte-americana.
Um dos aspectos que influenciam na resposta de cada país é o que se pode chamar de temporalidade da epidemia, que designa o tempo decorrido entre o primeiro caso registrado em um país e o primeiro caso registrado na China. Como a Covid-19 era uma doença desconhecida, os primeiros lugares a lidar com casos de infecção estavam inteiramente desprovidos de informação. Com o passar dos dias, semanas e meses, os especialistas foram entendendo os meios de transmissão, as populações de maior risco, a sintomatologia e o manejo mais adequado. Embora ainda haja muito a se descobrir, os países aonde a epidemia chegou mais tarde puderam reagir com base em um conjunto mais amplo de conhecimento científico. Os primeiros países atingidos, ao contrário, agiram às escuras. Por isso, demoraram a implementar medidas de isolamento e testagem, por exemplo.
No início, não se sabia nem mesmo se o vírus podia ser transmitido de um ser humano para outro. Depois, questionou-se o tempo de incubação do vírus e a possibilidade de pessoas assintomáticas transmitirem a doença. Mais recentemente, ainda indagava-se sobre as principais vias de transmissão do vírus – por via respiratória, ou por meio do contato com secreções em superfícies contaminadas. Hoje, muitos desses questionamentos estão respondidos. Sabe-se que o vírus é transmitido entre seres humanos, que pode permanecer em incubação por até catorze dias, que pessoas assintomáticas podem infectar outros indivíduos, que o vírus está presente não somente nas secreções respiratórias, mas também no sangue e nas fezes, e, por fim, que ele pode sobreviver por até três dias em superfícies como o plástico. São informações simples, mas fundamentais. Só com base nelas é que se pode definir as medidas mais adequadas para evitar a contaminação.
Além disso, por um bom tempo propagou-se a ideia de que a doença era um risco apenas entre os idosos, e os mais jovens não tinham muitos motivos para se preocupar. Entretanto, dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, reunidos entre fevereiro e março de 2020, indicam que mais da metade dos casos que necessitaram de internação hospitalar ocorreram entre pessoas de 20 e 65 anos. A Covid-19, originalmente descrita como uma doença respiratória, hoje é reconhecida como uma doença que afeta sistemas múltiplos, com manifestações cardíacas, neurológicas e hematológicas – um conhecimento que contribui para entendermos melhor a doença e encontrarmos formas mais eficazes para seu manejo.
O Brasil teve, portanto, uma vantagem na temporalidade em relação aos países da Ásia e da Europa. Em Wuhan, a cidade chinesa onde a epidemia começou, os primeiros casos foram oficialmente reportados em 31 de dezembro. Na Itália, 30 de janeiro. No Brasil, o primeiro caso foi identificado no dia 26 de fevereiro, quase dois meses depois do início da epidemia na China. Em 3 de fevereiro, antes de registrar seu primeiro caso, o Brasil declarou que a infecção humana pelo novo coronavírus era uma emergência em saúde pública. No mesmo dia, o Ministério da Saúde criou um mecanismo nacional para coordenar a resposta à emergência – o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, sob responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde. Em 4 de fevereiro, 22 dias antes do primeiro caso, o Congresso aprovou uma lei proposta pelo então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, prevendo um conjunto de medidas para enfrentar a epidemia – entre elas, isolamento, quarentena, determinação compulsória de exames médicos e patológicos, e restrição de transporte internacional (medida depois expandida para o transporte intermunicipal e interestadual). De forma importante, a lei também assegurava que todos os brasileiros tinham direito à dignidade, à informação sobre sua saúde e ao tratamento gratuito, além de estabelecer que faltas ao trabalho por Covid-19 seriam consideradas faltas justificadas. As medidas foram colocadas em prática em momentos variados, com alguns municípios e estados agindo mais rapidamente que outros. Mas as respostas, de modo geral, ocorreram por volta de 15 de março – duas semanas depois do primeiro caso registrado no país.
A experiência dos Estados Unidos oferece um contraste útil, pois, assim como o Brasil, trata-se de uma república federativa cujo primeiro caso confirmado de transmissão comunitária aconteceu, por coincidência, na mesma data do brasileiro – 26 de fevereiro. Apesar de seu primeiro infectado identificado ter vindo da China em fins de janeiro, os Estados Unidos só tomaram medidas para combater a infecção na primeira quinzena de março. Há estados norte-americanos que promoveram o isolamento social no mesmo período que o Brasil, mas há outros que, até agora, continuam sem adotar qualquer medida de controle da epidemia, deixando tudo por conta dos municípios.
Em geral, o enfrentamento contra a epidemia se dá de duas formas complementares. A primeira é a prevenção, cujo objetivo é reduzir o número de casos. Como não existe ainda uma vacina para imunizar a população contra o vírus, o meio mais eficaz para reduzir a disseminação da doença é conter a exposição das pessoas com isolamento ou distanciamento social. A segunda forma de enfrentar a epidemia é o tratamento, cujo objetivo é reduzir o número de mortos. Como ainda não há terapia que permita o combate direto ao vírus, o tratamento disponível é focado nas consequências clínicas da infecção – manejo dos sintomas, redução da inflamação e, nos doentes mais graves, medidas de suporte à vida. Em ambos os casos – a prevenção e o tratamento – os países respondem segundo a capacidade de seus sistemas de saúde.
Uma tarefa crucial na prevenção do contágio é identificar os casos da doença, área em que a maioria dos países até o momento enfrentou sérias dificuldades, com exceções como a Coreia do Sul e Taiwan, que fizeram testes com rapidez e em massa, demonstrando que é possível combater a epidemia com sucesso. Como são vizinhos da China, origem de epidemias anteriores como a da Sars (síndrome respiratória aguda grave) em 2003, esses países haviam feito investimentos pesados para ampliar sua capacidade de enfrentar novos agentes infecciosos. Com isso, conseguiram manter a epidemia sob controle, ambos com menos de uma morte por 100 mil habitantes meses depois do aparecimento dos primeiros casos.
O dinheiro, nesse caso, não é o único requisito relevante. É importante que um sistema de saúde possa produzir e comprar insumos, como testes diagnósticos ou equipamentos de proteção individual (EPIs), mas também é fundamental que tenha capacidade de coordenar a distribuição e o uso correto dessas tecnologias, permitindo que os recursos cheguem aonde são mais necessários. De novo, Coreia do Sul e Taiwan destacaram-se nesse quesito e conseguiram integrar sistemas de informação com ações em saúde pública. Assim, a Coreia pôde testar um grande número de pessoas em um curto período de tempo. Taiwan, ao concentrar-se em testar e isolar os estrangeiros que chegavam ao país, conseguiu conter rapidamente a infecção.
Nos Estados Unidos, a maior potência econômica mundial, mas também com desigualdades sociais e econômicas importantes, a epidemia trouxe à luz falhas graves na integração e na capacidade do sistema de saúde – falhas que custaram milhares de vidas. A estrutura de assistência médica norte-americana é extremamente fragmentada, com mais da metade da população dependendo dos planos privados. As coberturas de saúde oferecidas pelo governo atendem o restante da população, mas cobram pela maioria dos serviços. O atendimento público está dividido em dois programas. Um programa federal, conhecido como Medicare, atende idosos acima de 65 anos e portadores de deficiências. O outro, chamado de Medicaid, segue orientações do governo federal, mas é um programa estadual, que atende crianças e pessoas de baixa renda.[1] Com cinquenta estados diferentes, cada um com seu programa público de saúde, além dos inúmeros planos privados espalhados pelo país, todos com administração, cobertura e financiamento independentes, os Estados Unidos têm uma limitação praticamente intransponível para integrar a prestação de serviços de saúde.
A fragmentação do sistema norte-americano ficou evidente na demora em fazer testes diagnósticos para identificação da Covid-19. Os testes acabaram sendo aplicados de forma independente, de modo que a tarefa, descentralizada, foi executada por uma miríade de serviços de saúde e laboratórios pelo país. Por isso, muitos profissionais referiram-se ao período inicial da epidemia nos país como uma fase de “voar no escuro”. Havia uma carência absoluta de informação quanto à existência de casos em diversas comunidades, o que impediu médicos e gestores de saúde de avaliarem corretamente a situação e implementarem medidas mais rigorosas de isolamento. Atualmente, os Estados Unidos são o país com o maior número de casos confirmados no mundo – no fechamento desta edição, havia mais de 1 milhão pessoas infectadas.
O sistema desarticulado dos Estados Unidos está, neste momento de pandemia, enfrentando até a falta de medicamentos essenciais para pacientes graves, como anestésicos e broncodilatadores. Alguns remédios realmente estão indisponíveis no mercado, mas, além disso, há outro problema. Há casos de hospitais que atendem um grande número de pacientes com Covid-19 e precisam de mais medicamentos, mas estão impedidos de comprá-los de outros hospitais, ou outros estados, por causa de regulações federais e restrições contratuais com a indústria farmacêutica e os distribuidores.
Por fim, a estrutura e a capacidade instalada de um sistema de saúde – como leitos hospitalares, equipamentos e profissionais treinados – também têm papel central na epidemia. Não se instalam leitos e equipamentos de uma hora para outra, e nem se treina uma equipe de profissionais da noite para o dia. São coisas que exigem tempo. Em diversos países, recorreu-se a medidas de emergência, como a construção de hospitais de campanha, mas tais soluções não substituem, necessariamente, a capacidade instalada de serviços de qualidade e na quantidade suficiente para atender à saúde da população.
A experiência europeia ilustra bem a importância da capacidade instalada de um sistema de saúde. Cada país europeu tem o seu próprio modelo, com financiamento, planejamento e administração independentes. Tome-se o caso da Alemanha e da Itália, que foram os primeiros países europeus atingidos pela epidemia, ambos registrando um grande número de casos. A Itália tem 333 casos por 100 mil habitantes. A Alemanha, 190 por 100 mil. Ou seja: os italianos registraram 75% mais casos do que os alemães. A taxa de letalidade também mostra uma diferença brutal. Na Itália, está entre as mais altas do mundo: mais de 13% dos infectados morreram. Na Alemanha, morreram menos de 4% dos doentes. Uma explicação possível é que a Itália enfrentou mais limitações para atender seus pacientes críticos. O país tem 14 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. A Alemanha, com mais de 30 leitos de UTI por 100 mil habitantes, estava muito mais bem aparelhada para atender os doentes graves. O número de leitos de UTI não é, isoladamente, uma medida suficiente para medir o vigor de um sistema. Mas ajuda a entender sua capacidade em termos de profissionais treinados e outros recursos.
Criado em 1988 e implantado a partir de 1990, o Sistema Único de Saúde, o SUS, tem sido a peça-chave, talvez o fator mais importante de todos, para explicar a situação do Brasil na pandemia. O SUS é o maior sistema público e universal de saúde do mundo, cobrindo a todos os mais de 200 milhões de brasileiros e oferecendo serviços financiados exclusivamente pelos cofres públicos em praticamente todos os municípios do território nacional. Outros países têm sistemas públicos e universais, mas nenhum atende uma população tão vasta como a brasileira. Somos, portanto, um caso realmente único – e louvável – no mundo.
Com uma estrutura administrativa engenhosa, o SUS combina dois opostos. De um lado, tem uma rede descentralizada, que permite atender as diferentes necessidades em saúde das diferentes regiões e cidades. Assim, o sistema está desenhado para adaptar-se ao perfil epidemiológico, populacional ou sanitário de cada localidade. De outro lado, o SUS também tem uma estrutura vertical, que viabiliza a integração das políticas e atividades de saúde. Desse modo, sempre que necessário, o sistema pode atuar de forma harmonizada em todo o território nacional.
Em casos de doenças infecciosas, essa estrutura oferece grandes vantagens. No plano descentralizado, os três níveis de poder – federal, estadual e municipal – dividem a responsabilidade de fornecer serviços e remédios para os problemas mais comuns entre a população, principalmente as doenças crônicas. Já o combate a doenças infecciosas de perfil endêmico é feito por meio de programas estratégicos geridos de forma centralizada pelo Ministério da Saúde. Desta forma, o tratamento de tuberculose, malária, doença de chagas, hanseníase e outras doenças é padronizado em todo o país. Isso garante uma ação integrada no combate a patologias de impacto nacional na saúde pública. Se e quando houver um medicamento ou vacina contra a Covid-19, a estrutura centralizada do SUS poder ser ativada para comandar a negociação, o planejamento e a compra do remédio.
Além disso, o SUS conta com uma rede de atenção primária, que está presente em todo o país, incluindo as comunidades mais vulneráveis. Em tempos normais, essa rede oferece uma porta de entrada para o sistema de saúde. Graças a ela e à estratégia do programa de saúde da família, o Brasil reduziu a taxa de mortalidade materna e infantil, ampliou o acesso à saúde e a oferta de serviços. Entre os inúmeros bons resultados, está a imunização contra a gripe, que alcança mais de 70% da população acima de 60 anos.
No enfrentamento da Covid-19, essas redes de atenção primária contribuíram para desafogar os hospitais – o que ajudou a evitar a transmissão entre quem vai ao hospital com o novo coronavírus e quem lá está em função de outras patologias. Em segundo lugar, a prestação regular dos serviços primários de saúde nessas unidades, fora dos períodos de epidemia, inclui o combate a doenças infecciosas, como a influenza, e outras doenças endêmicas – e isso pode ter facilitado a vigilância epidemiológica e a adaptação dos processos de atendimento aos pacientes com Covid-19. E, por fim, a rede de atenção primária contribuiu para que os infectados fossem removidos o quanto antes de suas atividades de trabalho (e a falta no trabalho já era justificada, desde antes de a epidemia chegar, com base na astuta lei de 3 de fevereiro) e, consequentemente, do convívio social. Quando houver medicamento ou vacina contra a Covid-19, é a rede de atenção primária que permitirá que a novidade alcance os mais distantes e os mais vulneráveis.
Como o SUS oferece tudo a todos – da vacina contra a gripe à cirurgia neurológica, independentemente da renda –, o atendimento aos infectados pode ser amplo e generalizado, mas é justamente aí que reside a principal vulnerabilidade do sistema. O SUS tem quase metade dos leitos de UTI do Brasil – e, além disso, vem se mobilizando para alugar leitos na rede privada, desde o mês de janeiro, em preparação para a epidemia. Porém, a estrutura hospitalar instalada no país, tanto no sistema público quanto no privado, não é satisfatória. A Organização Mundial da Saúde recomenda entre 1 e 3 leitos hospitalares por 1 mil habitantes – mas isso em situações normais, não em tempos de pandemia. No Brasil, há em torno de 2 leitos por 1 mil habitantes. É um número inferior ao da Itália, que, apesar de ter uma média superior a 3 leitos por 1 mil habitantes, enfrentou momentos dramáticos em seus hospitais.
Além disso, a distribuição de serviços hospitalares é desigual no país. Não é acidental que a epidemia esteja adquirindo proporções de crise humanitária nos estados amazônicos, por exemplo. É a região do país onde a população dispõe, em termos proporcionais, de menos leitos hospitalares, menos leitos de UTI e menos médicos, além de ter menor acesso à água encanada e enfrentar os maiores índices de desigualdade socioeconômica. São condições, todas elas, propícias à disseminação do vírus e a uma alta taxa de mortalidade. Ainda assim, sem o SUS a situação seria ainda pior para as pessoas mais carentes que moram nas regiões mais distantes.
A pandemia está mostrando que, mesmo em países com excelente sistema de saúde, é preciso ter uma liderança responsiva e responsável, capaz de guiar o enfrentamento da doença. O Reino Unido, por exemplo, tem um dos sistemas de saúde mais antigos do mundo, criado no pós-guerra, em 1948. O National Health Service, conhecido pela sigla NHS, é considerado um dos melhores sistemas do mundo e atende a todos os cidadãos e residentes legais no país. E todo o atendimento é gratuito, financiado quase integralmente pelo governo. O NHS baseia-se em atenção primária à saúde, ligando os cidadãos a clínicos gerais e outros serviços elementares geralmente disponíveis nas redondezas da residência de cada usuário. Não é por acaso que a descrição do NHS se assemelha à do SUS. O sistema brasileiro foi inspirado no modelo britânico.
O Reino Unido, no entanto, está entre os países com maior número de casos da Covid-19 e apresenta uma taxa de letalidade equivalente à da Itália. Em grande parte, o descontrole da epidemia pode ser atribuído às más decisões do primeiro-ministro Boris Johnson, que contraiu, ele mesmo, o vírus. Em sua abordagem inicial, o governo britânico decidiu apostar na “imunidade de rebanho” – um processo pelo qual se permite que a epidemia se alastre livremente entre a população, criando assim uma massa de imunizados, o que acaba por conter a epidemia. Além disso, ou talvez por causa disso, o governo testou pouquíssima gente para a Covid-19 e, mais de um mês depois do primeiro caso registrado no país, pediu – não ordenou – que as pessoas limitassem suas interações sociais. Àquela altura, já havia mais de 1 mil casos no Reino Unido.
O Vietnã é um caso oposto. Pobre e populoso, com um sistema de saúde que está em transição e ainda exibe grandes ineficiências, o país, que tem mais de 1 mil km de fronteira com a China, registra um reduzidíssimo número de casos e, até o fechamento desta edição, não tinha um único caso de morte. Como? Seu governo agiu com rapidez. Ainda em janeiro, logo depois dos primeiros casos de Covid-19 na China, o governo de Hanói fez um controle estrito, monitorou pessoas em risco, impôs quarentena para a maior parte da população e fechou as fronteiras. Mesmo sem a abundância de recursos de outros países, como a Coreia do Sul, o Vietnã usou sua experiência de pandemias anteriores, como a Sars em 2003 e a H1N1 em 2009, e tomou a frente em ações de saúde. Houve críticas contra o governo, pois algumas medidas foram consideradas duras e extremas, mas é certo que contribuíram de modo decisivo para evitar mortes e uma sobrecarga do sistema de saúde do país.
Infelizmente, é no campo da liderança que reside o principal problema do Brasil. As divergências entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Luiz Henrique Mandetta, que culminaram com a demissão do ministro, somam-se aos embates que o presidente promove contra governadores – e tudo isso ameaça comprometer a resposta à epidemia. Os resultados alcançados até agora decorrem de um conjunto de ações entre os vários níveis de atenção à saúde, entre o SUS e o sistema privado, entre o Ministério da Saúde, os estados e municípios – e que estão concentrados exatamente naquilo que o Brasil está mais bem preparado para fazer: a prevenção de novos casos e a contenção da epidemia. A politização da doença e seu uso para a obtenção de dividendos eleitorais são uma ameaça contra esse equilíbrio, pois comprometem a confiança das pessoas nas políticas e decisões do governo. O maior problema é que as falhas na liderança afetam principalmente a prevenção, pois ameaçam as estratégias para reduzir a exposição ao vírus, colocando em risco desnecessário a vida de milhares de brasileiros.
Como demonstra o caso da Itália, é importante manter o número de doentes no nível mais baixo possível, permitindo assim que os serviços de saúde sejam capazes de atender os infectados. Se optarmos pelo modelo britânico de liderança, que no início permitiu que o número de casos crescesse descoordenadamente, os recursos do SUS podem se esgotar com rapidez, levando o sistema ao colapso.
Cada país tem suas próprias características demográficas, seus desafios sociais e econômicos e seu perfil epidemiológico – tudo isso altera tanto a suscetibilidade da sua população à transmissão do vírus quanto as consequências da infecção. Mas a pergunta que fica é: Como será o comportamento futuro da epidemia? Há estimativas de que poderemos retomar algum tipo de normalidade dentro de semanas ou meses. Mas também há especulações de que a luz no fim do túnel demore até alguns anos. Enquanto se busca essa resposta, enquanto cientistas pesquisam uma vacina ou tratamento, enquanto o mundo tenta vencer o vírus, tudo o que se pode esperar é que o Brasil não se desvie do seu caminho. Pelo menos um pilar fundamental para enfrentar essa hora grave o país já tem – chama-se SUS.
*Mariana Socal é médica neurologista e doutura em saúde pública, é cientista na Universidade Johns Hopkins.