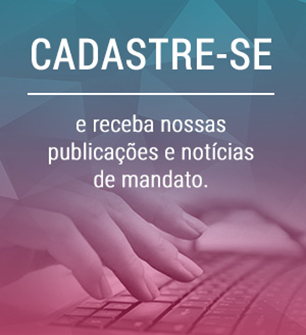Mario Sérgio Cortella: “O trauma da pandemia não vai nos redimir”
Folha S.Paulo – 25/04/2020
Para o filósofo, educador e escritor best-seller, apesar de coronavírus gerar temor coletivo comparável ao das bombas atômicas, muitos só vão querer voltar à vida normal
Jairo Marques
SÃO PAULO
Completando 45 dias de isolamento social nesta segunda-feira (27), o filósofo, escritor e educador Mario Sergio Cortella, 66, afirma não ter grandes desafios pessoais a serem enfrentados com a quarentena. Isso porque ele, na juventude, passou cerca de três anos enclausurado: pertencia à ordem católica dos carmelitas descalços.
Um dos palestrantes mais disputados do Brasil na atualidade, Cortella, que lançou recentemente, em coautoria com o historiador Leandro Karnal, o profético —estava pronto desde o ano passado— “Viver, a que se Destina?” (Papirus 7 Mares, R$ 39,90, 128 págs.) está se dedicando agora à releitura de “Criação”, de Gore Vidal, e “O Físico”, de Noah Gordon.

“Temos vivido tempos de silêncios internos. Quando me vem algum, recorro ao meu inventário de memórias construídas ao longo da vida para pensar sobre os passos que dei, que dou e que darei. Cada um de nós precisa buscar maneiras de não deixar um oco dentro de si neste momento, para evitar que a situação, que é difícil, se torne assustadora”, diz.
Cortella, autor de cerca de 40 obras e conhecido por arrastar uma multidão de fãs com suas falas relativas à valorização da vida, das diferenças humanas e de preceitos éticos, não é um entusiasta da ideia de que as pessoas serão transformadas positivamente após o fim da pandemia.
“Não creio numa redenção. Creio que muita gente, após um susto tomado, vai olhar algumas coisas de uma perspectiva diferenciada. Mas, quando se olha a humanidade, ao longo da história, percebe-se que nunca demos sinais de que aquilo que nos traumatiza, quando termina, vai nos redimir.”
Há amigos, parentes, gente próxima morrendo com a Covid-19. Como lidar com o medo de a fatalidade chegar cada vez mais perto de casa?
A natureza colocou em nós dois mecanismos de proteção: medo e dor. Quando perdemos qualquer um dos dois, ficamos num estado de vulnerabilidade muito extenso. O risco maior, neste momento, é não ter medo de nada, porque isso nos deixaria desatentos. À nossa volta estão rondando coisas com um nível de fatalidade e de desconhecimento que não pode ser desprezível. O maior perigo hoje é achar que não há perigo.
Um ser que, do ponto de vista da ciência, é chamado de não vivo, um vírus, ainda assim, consegue nos produzir um dano fortíssimo. Ele se aproxima da ideia, um pouco infantil, do medo de fantasma: aquilo que a gente não vê, mas nos ameaça.
Como lidar com a angústia da incerteza? Não se sabe se o confinamento vai durar mais algumas semanas ou se estenderá por anos, por exemplo.
Fomos desentronizados como humanidade, especialmente as camadas mais intelectualizadas, mais escolarizadas, mais marcadas por algum tipo de poder político ou econômico. Desabamos do pedestal no qual nos houvéramos colocado. Imaginávamos que, com o triunfo, no final do século 19, da ciência nas formas de progresso, que começou a se expandir, chegando ao final do século 20 com o mundo cheio de invenções e tecnologias inéditas, com novas formas de contato e comunicação, estávamos no controle.
Bastaram duas décadas do século 21 para que entrássemos num estado de entorpecimento e surpresa, provavelmente com nossa petulância anterior, de supormos que o triunfo de Prometeu —da mitologia grega— estava colocado em campo, que a racionalidade nos garantiria uma visão nítida dos próximos passos da vida.
De repente, chega uma circunstância inédita, em relação a seu modo de ação, sem indicativo de solução rápida em um mundo de instantaneidade e simultaneidade. Estamos habituados hoje a satisfazer nossos desejos de maneira quase imediata. Estamos surpresos agora com esse retardo das soluções. O tempo todo aguardamos o passo imediato da cura, da vacina, da saída, do pico da doença, como num passe de mágica.
Informações científicas nunca circularam com tanta rapidez e para um público tão amplo. Mas isso também gera insegurança. Ora aparece um medicamento salvador, ora se divulga que não há certeza sobre a imunidade contra o vírus. O que pensar?
A ciência não é infalível, mas é menos falível que a não ciência. Ninguém pode colocar na ciência uma fé inabalável. Ela também se equivoca, tem seus descaminhos históricos, mas eles são menores que seus acertos e sua capacidade de nos orientar. O esforço coletivo hoje, no campo científico, em todo o planeta, para encontrar uma solução que preserve a vida humana é inédito.
Temos dois momentos históricos de um grande temor da morte coletiva —desconsiderando as grandes pestes, que foram mais localizadas. A explosão das bombas nucleares, que trouxeram para nós um pensamento muito concreto de fim da humanidade, é o primeiro. O segundo é este que estamos vivendo, da pandemia do coronavírus, que, 75 anos depois, nos coloca em alerta máximo novamente.
O mundo do ataque nuclear, da Guerra Fria, que poderia acabar com a vida na Terra, era um efeito da ação da ciência. Agora, estamos lidando com o inverso, a ciência unida para enfrentar aquilo que não foi criado por nós, que não está sob o nosso controle, tentando nos salvar.
Como a ética e a filosofia abraçariam os profissionais essenciais que vivem o conflito de servir ao público nesta batalha e, ao mesmo tempo, têm de proteger a si mesmos e a suas famílias?
Pessoas diferentes fazem arranjos diferentes para o que entendem como seu propósito de vida, para que possam ir adiante. Não me estranha que alguém que esteja na linha de frente dessa batalha tema contaminar os seus e recue. E recuar não significa fugir. Às vezes, é uma proteção diante de uma outra condição.
Por outro lado, há os trabalhadores essenciais que reorganizaram a própria vida para cuidar dos outros, para darem conta de seus serviços que entendem como fundamentais. E muitos fazem isso sem se achar heróis, mesmo uma grande parte de nós não tendo o mesmo desprendimento.
Falar sobre isso sem estar diretamente envolvido na questão é sempre mais fácil. Mas não tenho dúvidas de que, se um dos meus ficar doente, se alguém do meu círculo de amizades precisar de mim para cuidar dele, eu o farei, mesmo sabendo que há risco. Tomarei todos os cuidados, mas o farei, porque eu ficaria envergonhado se, de alguma maneira, me acovardasse diante daquilo que, podendo fazer, não fiz. Mas insisto que não é um juízo moral imaginar que quem teme recue porque quer preservar a si ou a outros.
A questão ética é entre o poder e o dever. Aquele que deve, pode e não faz furta-se à tarefa que tem. O que deve, mas não pode, tem uma diminuição do conflito ético. Aquele que pode, mas não deve, está fazendo a escolha em ser contributivo.
A Covid-19 impõe o isolamento do paciente no hospital, que é apartado de todo tipo de contato com familiares. Dá para alentar quem está na solidão?
Tenho visto muita gente tentando romper a ausência de pontes, buscando conexão com quem precisa. Quando Guimarães Rosa criou o título “Grande Sertão: Veredas”, ele acertou em cheio a ideia de que a vida é grande sertão e nele a sua percepção é de abandono, que você está sozinho, mas também há veredas. Muita gente, pelo mundo afora, está se colocando como vereda de outras pessoas, mesmo que de forma limitada.
As ameaças do vírus também estão fazendo com que corpos sejam enterrados quase sem despedidas da família, sem cerimônias. Qual a consequência disso?
É uma situação inédita para uma geração que nasceu depois de 1945 e não viveu em realidades de guerras, em que não há tempo de enlutar. Ainda não tivemos tempo de avaliar o impacto que essa condição atual irá ter, até porque estamos tendo de lidar também com a sobrevivência.
Nossas grandes marcas de humanidade, quase sempre, estão ligadas a rituais que nos conectam com nossos mortos, sinais de túmulos, de fogueiras, de cinzas, paredes gravadas.
As cerimônias, como os velórios e sepultamentos, são para nos confortar, para ganharmos força. Neste momento, muita gente está tendo de encontrar força sozinho. É muito mais doloroso, não há nem o tempo de se dar conta da perda. Infelizmente, acho que o impacto dessas perdas não compartilhadas será conhecido dentro de alguns meses.

Muita gente tem dito que todos sairemos dessa pandemia transformados em algum sentido. Você crê nisso? O efeito pode ser coletivo?
Não creio nisso. Não acho que a humanidade irá se converter à solidariedade. Este tipo de perspectiva é muito mais marcada por um desejo de que isso tenha seu lugar no mundo. Também não acho que ficaremos do mesmo modo, que olharemos as coisas da mesma forma.
Foi impactante ver as pessoas transformarem algo que deveria ser comum, como o pôr do sol espetacular que tivemos em São Paulo na terça-feira (14), que foi até manchete de jornal, em um momento de alegria, de satisfação.
Mas acontece que, quando vemos o arco-íris muitas vezes seguidas, ele vai deixando de ser deslumbrante para ser comum. O olhar habitual sobre as coisas nos amortece um pouco. Não há dúvida de que, quando essa penumbra se dissipar, não vamos olhar do mesmo modo algumas coisas, mas não será um modo inédito de olhar.
Não creio numa redenção, creio que muita gente, após um susto tomado, vai olhar algumas coisas de uma perspectiva diferenciada. Mas, quando se olha a humanidade ao longo da história, percebe-se que nunca demos sinais de que aquilo que nos traumatiza, quando termina, nos redime. As lições são aprendidas por uma parte, mas há uma outra parte que só quer voltar ao normal.
Antes da pandemia, o Brasil estava em uma polarização profunda na política, nas relações sociais. A crise pode restabelecer laços?
A crise, que deixou a vida em geral entre parênteses e nos deixou perplexos com a nossa tibieza de reação e nossa indigência de proposição, pode reduzir um pouco a extensão e frequência das polarizações, mas não as inserirá em trilhas de convergência, dada a agudização que tiveram na retórica furiosa sobre responsabilidades e alternativas durante a própria crise. Contudo as urgências para a regeneração das estruturas e fundamentos da sobrevivência econômica nos deixarão tão atarefados que pode ser que várias das contendas inúteis sejam colocadas como aquilo que são: inúteis.
Mario Sergio Cortella é um filósofo, escritor, educador, palestrante e professor universitário brasileiro. É autor de vários livros, entre os quais Por que Fazemos o que Fazemos?, em que analisa a vida profissional na contemporaneidade. Foi Secretário Municipal de Educação de São Paulo no governo de Luiza Erundina.