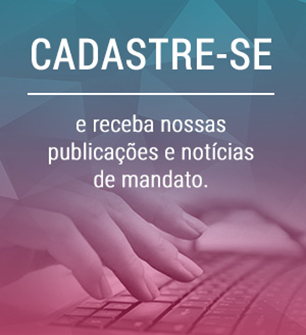Paulo Nogueira Batista Jr: “Dívida pública, política monetária e bancos privados”
Corremos o risco de experimentar uma concetração brutal da renda e da riqueza - num país com uma das piores distribuições do mundo
Publicado na Carta Capial, no dia 20 de abril de 2020 - Por Paulo Nogueira Batista Júnior*
O debate econômico no Brasil mudou muito nos meses recentes, mas ainda está engatinhando em face da dimensão avassaladora da crise. Logo nos primeiros momentos, estabeleceu-se virtual unanimidade quanto à urgência de uma rápida e substancial ampliação do gasto público. “Somos todos keynesianos agora”, repetiu-se urbi et orbi. Ora, como dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra – e esta não escapa à regra rodrigueana.
Chamou a atenção a desfaçatez com que economistas ortodoxos (de galinheiro, claro) passaram subitamente a clamar por intervenção estatal e políticas macroeconômicas expansionistas – não keynesianas, diga-se, mas hiperkeynesianas. Até mesmo aqueles que insistiam em proclamar, há pouco tempo, que o Estado brasileiro estava “quebrado” deram para pregar que a salvação da economia nacional dependia agora deste mesmíssimo Estado quebrado. Ironias da história.
Galbraith tinha toda razão em dizer que o humor é, sempre e em toda parte, uma ferramenta indispensável para a análise econômica. No Brasil, os varões de Plutarco de galinheiro, proeminentes e inveterados arautos da austeridade fiscal e monetária, defendem de repente imediato aumento do gasto e da moeda. Não se dão ao trabalho de explicar ao distinto público o que autoriza tamanha reviravolta de recomendações. Tampouco explicam por que se pode tolerar e até exigir um crescimento do déficit fiscal, da dívida pública e do passivo monetário do Banco Central.
Aí tem … A unanimidade é burra porque, tal como a estatística e o biquini, esconde o essencial. No caso em tela, ela joga o foco sobre uma questão de ordem macroeconômica – a estabilização da demanda agregada e do nível de atividade – e desvia atenção de uma outra dimensão essencial – a questão distributiva. Protegida pela mídia, a ortodoxia de galinheiro lança ao mar o que lhe restava de coerência e aparência de seriedade, correndo sofregamente para garantir o essencial – uma tremenda socialização de prejuízos por meio de medidas de política fiscal e, em especial, da ação do Banco Central.
Corremos o risco de experimentar uma concentração brutal da renda e da riqueza – isto num país que já exibe uma das piores distribuições do planeta. O risco não pode ser negligenciado, como diria um inglês das antigas. Não há controle nem transparência suficientes. A opinião pública, alarmada com a pandemia, e distraída pelo comportamento aberrante do presidente da República, não percebe ou não consegue entender o que estão armando.
Tentarei oferecer aqui algumas explicações, sem a pretensão de ser exaustivo, ou mesmo totalmente certeiro. A confusão é grande e não é nada fácil acompanhar a avalanche de notícias, medidas e providência, misturadas com fake news, debates politiqueiros e desinformação, tanto do lado do governo como dos seus críticos.
Vamos por parte, como faria “Jack the Ripper”.
A expansão do déficit e do endividamento públicos - quem se beneficia?
Primeiro ponto: não basta exigir a expansão do gasto, da dívida e da moeda. A exigência é correta, mas deixa em aberto perguntas básicas: para onde estão indo os recursos liberados? quem é atendido, quem deixa de ser? qual a sua eficiência em termos de estabilização da economia?
Os gastos realizados e a moeda posta em circulação têm destinatários e constituem obrigações estatais. A moeda primária é um passivo que não carrega juros, mas a dívida implica, em condições normais, um fluxo de encargos financeiros. Infelizmente, a maior parte do gasto público adicional será coberta por ampliação do endividamento. Não será surpreendente se, depois da crise, a dívida bruta do setor público (excluindo a base monetária e incluindo estados e municípios) se aproximar da marca de 100% do PIB.
Portanto, passada a pandemia, o debate sobre austeridade será retomado sem muita demora. Os de sempre apontarão, alarmados e não inteiramente sem razão, para a dívida pública tremendamente aumentada e para o tamanho inflado do balanço do Banco Central. Ouviremos de novo o coro: “O Estado ‘quebrou’”, “é urgente cortar despesas”, “é preciso restabelecer a normalidade da política monetária e desinchar o ativo do Banco Central” etc. Acenarão com ameaças de volta da inflação e de desordem fiscal e financeira.
A urgência do momento atual não permite muito refinamento. Respostas rápidas serão indispensáveis, erros e tropeços, inevitáveis. Contudo, não se pode perder inteiramente de vista a dimensão de médio e longo prazos, ainda que toda crise traga sempre um encurtamento de horizontes.
É importante perguntar desde logo: como ficarão as finanças governamentais no pós-crise? Em especial: será possível evitar, após a crise, o crescimento contínuo da dívida como proporção da receita tributária e do PIB? A questão só seria facilmente solucionável se o Brasil convergisse para taxas de juro baixas ou próximas de zero, a exemplo do que se observa em diversos países desenvolvidos, mesmo antes da pandemia. Nesse cenário, mesmo com crescimento modesto da economia seria perfeitamente factível estabilizar a razão dívida/PIB ou dívida/receita fiscal.
O mais provável, entretanto, é que as finanças públicas pós-crise se caracterizem pelos seguintes traços, entre outros: a) uma relação dívida/PIB muito maior do que antes da crise; b) taxas reais de juro positivas; e c) taxas de crescimento do PIB modestas, possivelmente prejudicadas pelo retorno de políticas de austeridade fiscal e por certa “normalização” da política monetária.
Se isto for verdadeiro, é especialmente recomendável usar o recurso da expansão do endividamento público de forma inteligente e justa durante a crise. As despesas relacionadas diretamente ao combate à pandemia têm prioridade absoluta, claro. Mas, além disso, é essencial, por exemplo, ampliar gastos que se destinem a setores com alta propensão a consumir, notadamente transferências sociais a setores de baixa renda.
Esse tipo de gasto mata dois coelhos com uma cajadada (algo relativamente raro em economia, dominada por trade offs): não só socorre os mais necessitados, como é mais eficiente na sustentação da demanda efetiva. Em outras palavras, alcança-se com um dado aumento da dívida pública um resultado melhor em termos de distribuição social da renda e um impacto maior sobre a atividade econômica. Outra prioridade é ampliar, sempre que as precauções quanto à saúde pública permitam, os investimentos de infraestrutura. Esses investimentos, como se sabe, têm a dupla vantagem de estimular, por um lado, a demanda e o emprego correntes e, por outro, de ampliar a oferta agregada da economia e o seu produto potencial.
Inversamente, gastos e injeções de recursos que beneficiem setores de alta renda e riqueza não só agravam a já elevada concentração de renda no país, mas produzem em geral menos efeitos em termos de sustentação da demanda. Isso vale, a fortiori, para medidas que estão sendo (ou podem ser) tomadas pelo Banco Central. Pouco ajuda encharcar os bancos de liquidez, de forma horizontal. Um exemplo disso é a decisão de reduzir os depósitos compulsórios dos bancos no Banco Central.
Sem direcionamento e contrapartidas claramente estabelecidas, os compulsórios liberados irão simplesmente engordar o colchão de liquidez dos bancos. Estes, principalmente os privados, tendem a um comportamento pró-cíclico. Mostram-se mais propensos a emprestar quando a economia está aquecida, os lucros elevados e os riscos menores. Tendem a se retrair quando a economia entra em recessão, os lucros caem e os riscos aumentam. Ou seja: o sistema bancário segue a corrente, agravando as tendências em curso, inclusive as problemáticas, como aquecimento excessivo ou contrações perigosas. Em momentos como o atual, em tempo de recessão e ameaça de depressão, o crédito privado se torna escasso e caro.
Desse modo, a única consequência prática da diminuição dos compulsórios é a mudança para pior da composição da dívida pública. Os recursos liberados não são direcionados ao crédito, mas aplicados pelos bancos em títulos públicos. Cai um passivo relativamente barato e sob controle do Estado – os depósitos compulsórios dos bancos junto à autoridade monetária – e sobe na mesma medida um passivo mais caro e de prazo curto: o estoque de dívida pública mobiliária em poder do mercado. Aumentam, assim, os resultados dos bancos à custa das finanças governamentais.
Como o crédito bancário não cresce ou quase não cresce, pouco ou nada se alcança em termos de estabilização da demanda efetiva. Renda flui para os bancos e seus proprietários, e não circula. Principais resultados em poucas palavras: aumento da dívida do Tesouro, mudança e encarecimento do passivo consolidado do Tesouro e Banco Central, aumento da liquidez e dos lucros dos bancos, ausência de efeitos sobre a demanda e o crédito.
Temos aí, em apertada síntese, como dizem os advogados, um exemplo do tipo de política anticrise que não é recomendável e virá certamente dificultar a retomada da economia no pós-crise.
A captura do regulador pelos regulados
Essas considerações apontam para riscos que são, tudo indica, especialmente relevantes para o Brasil e, mais ainda, para o Brasil em tempos de crise. O banco central brasileiro tem historicamente uma relação de dependência com os bancos. Deveria supervisionar e regular o sistema bancário, com isenção e autonomia em relação a interesses financeiros privados, mas não alcança senão parcialmente esses objetivos.
Esse é um dos temas abordados em livro que publiquei recentemente (O Brasil não cabe no quintal de ninguém, editora LeYa, 2019), onde argumento que a forma habitual de constituição da diretoria do Banco Central torna a instituição vulnerável à influência dos bancos que deveria regular, com prejuízo para o interesse público. É a chamada porta giratória. O fenômeno não é exclusivamente brasileiro; nos Estados Unidos fala-se da revolving door.
Mas aqui o problema se manifesta de forma particularmente clara. Executivos oriundos do mercado financeiro privado, e destinados a retornar a ele, são chamados a integrar a diretoria do Banco Central e tendem a dominá-la. No exercício do cargo de presidente ou diretor do Banco Central são obrigados, por assim dizer, a dançar conforme a música – no interesse, claro, do seu retorno a funções ainda mais prestigiadas e bem-remuneradas em instituições financeiras privadas. Trata-se, em última análise, de uma forma sutil e intransparente de corrupção – palavra forte, porém apropriada, acredito.
No governo Temer, por exemplo, o Banco Central foi presidido por Ilan Goldfayn, paquidérmica figura com origem no Itaú. Goldfayn deixou muito a desejar como presidente do Banco Central, como explico no livro acima citado, mas fez o necessário para deixar o cargo sob aplausos da mídia e da turma da bufunfa, aninhando-se depois de curta quarentena em confortável cargo no Credit Suisse. Foi substituído no comando do Banco Central por um executivo do Santander, Roberto Campos Neto, cujo destino após a passagem pelo setor público será – posso apostar – alguma sinecura no mercado financeiro privado. A previsão não é difícil – a turma da bufunfa cuida dos seus.
Pois é este ex-executivo do Santander que comanda o Banco Central na maior crise de que se tem notícia. Com o argumento de que precisa preservar a estabilidade do sistema financeiro e ajudar a salvar a economia da depressão, Campos Neto acionou diversos instrumentos e pediu autorização legal e constitucional para ampliar os mecanismos de intervenção da autoridade monetária, estendo-os inclusive à compra no mercado secundário de papéis de empresas não-financeiras.
As medidas têm natureza horizontal e podem levar facilmente ao uso inapropriado dos recursos à disposição do Estado nacional. Na linha do que argumentei acima, essas medidas tendem a resultar em ampliação ou encarecimento da dívida pública, benefícios para os bancos e concentração da renda – sem ajudar em nada ou quase nada a estabilização dos níveis de atividade econômica e de emprego. O único emprego totalmente garantido por essas medidas é o emprego futuro do economista bufunfeiro que atualmente comanda o Banco Central.
Tudo isso é absurdo, mas não inesperado. Sem controle de outras instâncias do setor público, recebendo basicamente carta branca, o Banco Central atuará em consonância com os lobbies bancários.
É preocupante. Alarmante, na verdade. Cabe aos que prezam o interesse público usar todos os meios a seu alcance para impedir a continuação dessas práticas e abusos.
Este texto não reflete necessariamente a opinião de CartaCapital.
*Paulo Nogueira Batista Júnior é economista, foi vice-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, estabelecido pelos BRICS em Xangai, e diretor-executivo no FMI pelo Brasil e mais dez países